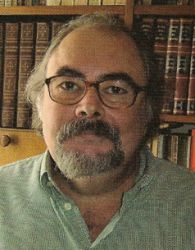|
||||||
REVISTA TRIPLOV
|
||||||
|
Leia o Capítulo 1 de
|
||||||
| DIREÇÃO | ||||||
| Maria Estela Guedes | ||||||
| Índice de Autores | ||||||
| Série Anterior | ||||||
| Nova Série | Página Principal | ||||||
| SÍTIOS ALIADOS | ||||||
| TriploII - Blog do TriploV | ||||||
| TriploV | ||||||
| Agulha Hispânica | ||||||
| Arditura | ||||||
| Bule, O | ||||||
| Contrário do Tempo, O | ||||||
| Domador de Sonhos | ||||||
| Jornal de Poesia | ||||||
|
||||||
|
1. Migração dos Cisnes é um romance multicultural, todo ambientado na Europa. De onde veio a inspiração para construir essa história? Veio de uma mistura de atrevimento, ousadia, alegria e intimidade. Os dois primeiros ingredientes fazem parte do meu fazer literário. A alegria, por conseguir lidar com minha herança europeia, com minha vida de andarilho e pesquisador e poder mesclar tudo isso com um projeto literário; alegria, ainda, porque já sabia de antemão, logo que o projeto começou a se desenhar na minha cabeça, que iria ter enorme prazer na sua realização. Intimidade é a palavra que melhor identifica minha relação com Portugal, França e Irlanda. Acrescentaria a tudo isso mais algumas coisas, temperos, como o de concretizar uma espécie de colonização reversa. Explico: instalo-me no mundo europeu, disfarçando-me ora de português, ora de francês, ora de irlandês, e colho uma história, ou várias, inventada, mas recriada a partir do que lá está. É muito mais honesto do que fez Pero Vaz de Caminha que permaneceu vestido enquanto os índios o admiravam nus. Mas voltando ao livro, Migração dos cisnes é um romance de um escritor profundamente brasileiro, que apeia do outro lado do Atlântico e se põe a narrar e a reinventar o mundo que depara. É um registro de diversas ‘almas’ europeias e é um testemunho, um registro, melhor dizendo, do homem contemporâneo. É já um mundo sem fronteiras físicas muito salientes, esse nosso, mas que não escamoteia outras de toda sorte, envolvendo oportunidades desiguais, angústias e pânico no âmbito da solidão individual, da troca, da experiência humana, da vida material, da fantasia e do sonho pessoais. Como a vida, devo acrescentar que Migração dos cisnes é um jogo, um jogo jogando a vida com os elementos que ela fornece. Um jogo intenso e um convite inadiável para viver. 2. Sua obstinação pela excelência literária não prejudicaria, de alguma maneira, o entendimento de seus livros pelo leitor comum? Não conheço ninguém mais obstinado pela excelência do que nomes como James Joyce e Henri James. Seus livros vendem no mundo inteiro até hoje. A excelência e a qualidade andam de mãos dadas com a perenidade e a vida longa da obra literária. A excelência é a formadora da cultura e do pensamento. Se logrei alcançar em algum momento esse estágio almejado, não poderei responder, mas o que mais conta é justamente não se contentar com fórmulas literárias já gastas e repisadas. Há mais de 700 anos o romance se instalou em Portugal. Não podemos exigir que se leia hoje como se lia “A demanda do Santo Graal”, em sua primeira tradução portuguesa (aproximadamente em 1270). A evolução mental da raça humana deve encontrar sua contrapartida no âmbito das artes. E, até onde sei, a obra de grande qualidade é muito mais facilmente digerida do que a obra feita por mãos inexperientes ou pouco calejadas. Só não percebem isso editores que não conseguem se relacionar com o grande público. “Cuidado ao alimentar os leões! Jogue a comida por cima da grade de aço” diz o aviso do zoológico. O leitor comum, o leitor em formação, o jovem leitor, enfim, necessitam de um texto de ficção, de um poema, de um filme que os seduzam pela clareza fílmica ou literária, pela inventividade, pelas imagens, pela trama. Que os atraiam. E isso ocorre quando a obra consegue dizer-se a si própria sem subterfúgios; isso ocorre pelo simples fato de que o belo é uma das mais antigas buscas do ser, desde as pinturas rupestres fazemos arte, registramos, com os elementos que temos à disposição, o mundo ao nosso redor. A arte e a literatura, oral ou escrita, fazem parte de nós, de nossa vida. Agora, os leões (leia-se os leitores) estão enjaulados, dizem os editores, ou ao menos muitos deles, podemos então atirar qualquer coisa de má qualidade. Se eles estiverem famintos, comerão, não é verdade? O mesmo se dá com a grande massa de leitores insatisfeita do Brasil. Edita-se muito, edita-se lixo, de modo geral. Com o surgimento de faculdades em cada esquina, espalhadas pelo país afora, haverá sempre um poeta excluído em cada rua, em cada prédio. Ainda hoje escrever e publicar é um sonho. Originais de todas as partes são atirados sobre o colo de editores indiferentes. Ora, essa história é muito antiga em países desenvolvidos. Em Paris, onde vivi, encontrei ao acaso uma dezena de jovens servindo cafés em bistrôs lamentando que não tiveram ainda oportunidade para apresentar seu extraordinário trabalho, muito superior ao que as galerias expõem, melhor ainda de tudo o que se encontra nos museus. Todos têm ideias absolutamente originais, jamais pensadas antes, mas a burguesia francesa não lhes dá espaço. Agora, o tom de sua pergunta sobre a minha obstinação pela qualidade, pela excelência literária soa como algo alheio à indústria cultural, quando deveria ser seu objetivo maior. Quem em algum momento provou que escrever qualquer coisa de qualquer modo, gera um produto final mais agradável ao espírito? Ora, o leitor não sabe escolher entre o que é do partido da excelência literária e o que é do partido da mediocridade literária, e, convenhamos, é mais fácil seguir pela larga avenida da mediocridade, do que buscar a excelência. Mas será isso realmente verdade? Jamais senti de um leitor medíocre qualquer desalento
ao deparar por engano uma obra literária de grande qualidade. Comigo
aconteceu bem o contrário. Ganhei leitores ao primeiro contato com minha
obra; leitores que não sabiam escolher livros, que os compravam e os
liam porque estavam mais à mostra. A realidade é bem outra. A excelência
não é um recinto fechado, impermeável aos mortais. É um salão aberto,
escancarado, cheio de luz e alegria, repleto de humanismo e beleza. O meu projeto acadêmico tomou consistência no momento em que descobri a obra de Cesário Verde. Um pré-modernista. Desse momento em diante eu já sabia que iria, depois de Cesário, continuar a vereda em direção a Pessoa, Almada-Negreiros, Mário de Sá-Carneiro -- os modernos portugueses, como se costuma dizer. E foi o que fiz. Entretanto, por mais estranho que possa parecer, nenhum deles influenciou o meu trabalho diretamente. De cada um deles recebi, contudo, um sopro de vento para ir até o mar alto e não ter medo de abrir caminho através das ondas e correntes. A busca de novas formas de narrar e versar está neles, como em outros brasileiros, franceses, irlandeses, latino-americanos. Creio que quando decidi entrar para o mundo acadêmico, talvez por já haver percorrido um bom caminho como escritor, eu já houvesse fincado algumas raízes no terreno movediço da ambição de inovar. Meu trabalho sobre o Orpheu tornou-se incessante após minha defesa de tese, há quase duas décadas. E correu paralelamente ao meu projeto literário de poeta e prosador. Mas é evidente a forte contaminação que a atividade crítica exerce sobre o trabalho poético e prosaico, quer meu objeto de trabalho fosse o modernismo ou o barroco, e o contrário também é verdadeiro. Mas isso não quer dizer que iria reeditar na minha escrita o verso barroco por força de lidar com ele intensamente. Seria subestimar demais a atividade crítica, o bom-senso e a capacidade humana de, em espírito, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não quero repetir Gregório de Matos, nem Fernando Pessoa, ou Joyce, ou Manuel Bandeira, ou Eugenio de Andrade. Estou com todos eles e com nenhum. Estou lutando comigo e por vezes contra mim para me superar, para rejeitar pela décima vez a frase que iria fechar um certo parágrafo, até encontrar a linguagem que me supera até esse exato momento. Então, aí, saberei que avancei um pouco mais na direção do objetivo intangível e talvez inalcançável da excelência. Mas convenhamos: a solidão de escrever é menor quando se sabe que por cima dos seus ombros, por cima dos ombros do escritor, do poeta, estão bisbilhotando o que você escreve autores de outros lugares e épocas. Escrevo com eles, por causa deles, e por causa da obrigação que sinto ter de testemunhar a existência do homem na face da terra. Essa é a tarefa. A literatura é uma enorme rede. Cada nova obra é um
novo nó, que altera, mesmo que de maneira muito sutil, a tensão em
pontos distantes da mesma rede. Quando faço um verso sem pontuação penso
por vezes em Guido Cavalcanti, do século XIII, amigo de Dante (e sei que
o nó da poesia de Guido estremeceu um pouquinho); quando penso em
cabelos negros, me ocorre qualquer coisa de Vinícius de Morais, qualquer
coisa lírica, que não vou aproveitar, mas que causa em mim um certo
contentamento íntimo, muito íntimo. O Brasil se tornou um país visual antes de ser um país da palavra escrita. O que não ocorreu no Velho Mundo, nem nos EUA, só para dar dois exemplos, nem mesmo na América Espanhola, em que se edificou a segunda ou terceira universidade mais antiga do mundo, em Lima (Peru). A colonização portuguesa proibiu a imprensa até a chegada de D. João VI e sua comitiva ao Brasil. Jornais eram proibidos, e um indivíduo que tivesse mais do que três livros em casa era considerado o sábio do ‘pedaço’. O Governo brasileiro, em todos os níveis, desde o início da Primeira República, deveria reconhecer que estávamos muito atrasados e que tinhamos que lutar com todas as forças para recuperar o tempo perdido, o tempo não lido, o tempo não pensado e não escrito. Mas não fez isso. Diferentemente, a colonização do Oeste dos EUA ocorreu de acordo com um modelo que se reproduziu em todo o país. Primeiro se construía a prefeitura, depois a Igreja, a biblioteca e a Escola. Estes eram os esteios da vida pública e as referências magnas da vida privada. Na Inglaterra, uma revolução cultural teve lugar depois da Primeira Grande Guerra, quando se formulou nos altos escalões uma diretriz que fomentaria a implantação de bibliotecas públicas em todo o país, com o propósito de valorizar e salvaguardar o futuro da língua e da cultura inglesas. As bibliotecas surgiram então, como grandes salas de leitura. A pesquisa como função surgiu depois. A indústria editorial se ergueu vertiginosamente, impulsionada pelo programa de aquisições governamentais que aparelhavam as salas de leitura com novos titulos a cada semana, garantindo o custeio de edições. A biblioteca era um equipamento escolar obrigatório, e a universidade já implantada em grande parte antes do século XVIII se modernizava. Nesses países havia um reconhecimento tácito de que a leitura, o conhecimento e o domínio das artes, das letras e da ciência eram o único meio para o desenvolvimento humano. E o que ainda hoje temos no Brasil? Escolas públicas e privadas, cidades pequenas e médias, inclusive faculdades e universidades sem bibliotecas. E, quando existem, não são geridas por bibliotecárias, mas por zeladores de livros. Seus acervos são medíocres e jamais atualizados, posto que os prefeitos e governadores não crêem que gastar com livros seja eleitoralmente falando muito lucrativo. Muito pelo contrário. A televisão brasileira controla os meios culturais com garras inquebrantáveis e instala-se no interior das casas disseminando uma campanha incansável que valoriza o exterior, o visual, o efêmero. O jornalismo busca o sensacional, o desastroso, o acidente brutal, a fofoca política, e adquire as matérias de fundo, sobre política, economia internacional, análises de conjuntura, lá fora, das agências. O espaço na imprensa escrita para divulgar a literatura é cada vez mais reduzido e entregue, por medida de economia, a jornalistas (que já se encontram na folha de pagamento da empresa) que muitas vezes não têm formação alguma para resenhar uma obra. Literatura não vende jornal, dizem os chefes de redação. Pode o quadro ser pior do que este? Acho que pode. Basta proibirem que se escreva boa literatura, bom ensaio e que também se proiba que se pense em voz alta. Aí então teremos chegado ao fundo do poço nessa questão. 5. Solução? Soluções? Eis algumas: 1. Leis que obriguem estados e municipios a empenhar parte da verba na aquisição de obras literárias de autores brasileiros ou não para as bibliotecas públicas; 2. leis que obriguem que estados e municípios construam mantenham e equipem bibliotecas públicas, mantendo pessoal preparado para tanto, informatizando-as e interligando-as em rede municipal e estadual; e, ainda, que essas bibliotecas tenham seu acervo acrescido anualmente em pelo menos 30%, todos os anos; 3. leis que obriguem que a imprensa televisiva, falada e escrita criem em sua grade de programação, a primeira e a segunda; e em sua pauta, a última, programas focados na divulgação da literatura brasileira primordialmente, programas esses que deverão ocupar pelo menos 5% da grade ou espaço, conforme o caso, da matéria jornalística editada. Isso é limitação à liberdade de imprensa, dirão alguns. Isso é amplificação do direito humano de pensar, direi eu e muitos outros que pensam como eu penso; 4. leis que obriguem a implantação de bibliotecas escolares a curto prazo, não daqui a dez anos, como pretende o governo federal hoje (agindo como sempre, tardiamente); 5. criação de postos de ensino em universidades para escritores (residência), com carreira própria: criação de cursos e workshops literários, para ensinar professores e alunos a escrever e a valorizar a escrita e a leitura; 6. criação de um programa permanente e obrigatório, em todo o território nacional, de encontros e palestras de escritores em todas as universidades brasileiras, públicas e privadas; escolas de primeiro e segundo graus e instituições ligadas de alguma forma à cultura; 6. criação de incentivos financeiros para a publicação de obras literárias de autores brasileiros que possibilitem primeiramente que autores possam receber subsídios para escrever e editoras apoios para publicar suas obras, sem burocracia e complicações demasiadas; 7. criação de uma campanha permanente para incentivar o gosto pela leitura nos meios de comunicação, campanha parcialmente subsidiada pelos governos federais e estaduais, e em parte por empresas privadas (que poderiam obter redução de impostos na proporção dos investimentos feitos e comprovados nessa campanha pela leitura). 8. criação de postos avançados de oferta de obras para leitura, interligados à principal biblioteca municipal de cada cidade, permitindo que os habitantes de todas as regiões e municípios possam retirar livros para ler no caminho do trabalho, mediante apresentação de um cartão magnético de identificação e controle de obras retiradas. 9. ampliação dos programas de ensino de línguas e literatura nas universidades federais em pelo menos 50%; 10. ampliação dos programas de ensino de português e suas literaturas nas escolas de primeiro e segundo graus; 11. obrigatoriedade de avaliações escolares por meio de trabalhos escolares escritos nas áreas de língua portuguesa e literatura brasileira, com base em critérios de desempenho e domínio do idioma e do assunto de maneira efetiva, sendo o resultado insuficiente determinante para que o aluno volte no ano seguinte ao mesmo ano de formação em que se encontrava, até dominar o idioma com a devida fluência e conhecimento. E fico por aqui, porque a solução do problema da
ausência de leitores e do baixo índice de consumo de livros por
habitante no Brasil não se esgota com essas onze medidas apontadas. É que quando surgiu a ideia de produzir um livro europeu, no sentido de que toda a ambiência da obra é europeia, e em seguida, após refletir sobre sua provável estrutura, personagens e enredo, concluí que para dar conta só da primeira parte do livro, de modo intenso e minucioso, dos quatro dias da vida de duas personagens, como foi afinal o que foi projetado e realizado, e ainda introduzir os elementos que seriam utilizados na segunda parte, eu necessitaria de centenas de páginas, para obter o efeito e o resultado pretendidos. Nesse ponto lembrei-me de um projeto de Carpentier, que atrelava sua novela a uma determinante peça musical. Mas não era isso o que eu desejava. O que efetivamente pretendia era buscar construir uma obra que fosse sempre fresca a cada página virada, que não provocasse fastio. Para tanto, pensei – e aí entra a música – nas grandes sinfonias. E ao pensar nisso refleti sobre os diversos movimentos que a compõem e se articulam entre si, ora mais moderados, ora mais pulsantes e enérgicos, voltando a algum ponto entre a moderação e a emoção incontida, para depois oferecer em outro movimento uma explosão de emoção, etc. Concluí que Migração dos cisnes deveria evoluir sobre diversas plataformas narrativas, alterando ritmos, ora esmiuçando detalhes como pode fazer uma câmera cinematográfica parada, com lente de zoom; ora oferecendo ao leitor um convite para correr agarrado ao fio narrativo, como alguém que ama a velocidade e a vertigem. Isso, no meu modo de entender iria permitir que a obra se desenvolvesse como planejado sem cansar o leitor (e o autor também!). Decidi ainda que a segunda parte do livro receberia a maior dose de aceleração, com a entrada em cena do criador do jogo de Dublin, homem maduro, casado com Kate, pai de Kathleen, artesão nas longas horas vagas que a aposentadoria lhe oferece diariamente, e grande leitor, mas também homem que não esquece de uma perda que afetou sua vida desde então: a morte prematura de seu filho, ainda menino. Mas já estou contando a história, quando na verdade só devo responder ao que me foi indagado: a relação da obra com a música. Pois bem, na segunda parte, já se sabe, tudo parece ganhar aceleração, ou, melhor, eu diria que a aceleração da narrativa predomina sobre a contenção mais do que na primeira parte. Por essa razão, e por outras, que não vou revelar agora, a segunda parte é menor que a primeira. Você vai querer saber se o final do romance é surpreendente? 7. Claro que sim, muito, e por diversos motivos.
Mas essas coisas são da alçada da obra. Não cabem nesta entrevista nem
neste espaço. |
||||||
|
|
||||||
|
Ricardo Daunt (Brasil) |
||||||
|
|
||||||
|
© Maria Estela Guedes |
||||||
|
|
||||||