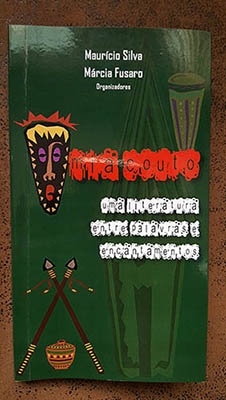| |
| |
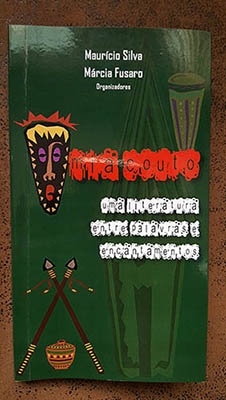 |
MAURÍCIO SILVA &
MÁRCIA FUSARO
Organizadores
MIA COUTO
Uma literatura entre palavras
e encantamentos
São Paulo, 2011
ÍNDICE
|
|
 |
|
|
O romance
Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra e a moçambicanidade
literária em Mia Couto
THIAGO LAURITI*
|
 |
|
“Quando já não
havia outra tinta no mundo:
o poeta usou do seu próprio sangue.
Não dispondo de papel,
ele escreveu no próprio corpo.
Assim, nasceu a voz, o rio
em si mesmo ancorado.
Como o sangue: sem foz nem nascente”
(Mia Couto, Lenda de Luar-do-Chão)
|
| |
|
O presente artigo não
pretende ser uma exaustiva análise da riquíssima obra Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra, de Mia Couto, um dos
mais importantes autores da África de hoje, mas sim uma análise
dos traços da moçambicanidade nela existentes.
Partimos da ideia de que é a busca pela identidade
individual e coletiva no contexto moçambicano que mobiliza o
movimento narrativo, ligado à recorrente atitude estética do
autor, sempre presente nos seus livros, de apresentar a
dicotomia entre a tradição e a
modernidade. Esta se configura como a hipótese
central deste trabalho e o seu fio condutor. A explicitação do
enredo, que falaremos no item a seguir, talvez esclareça melhor
o que se acaba de esboçar.
A tradição (Dito Mariano: “o munumuzama”, o
patriarca) e a modernidade (seu neto/filho Marianinho) vão se
confrontar e se alimentar miticamente, no decorrer da obra
inteira. O passado e o presente (que é embrião do futuro)
amalgamam-se na obra “o tempo atrás eu vou matando. Não
quero isso atrás de mim” (COUTO, 2003, p. 259). O antigo
revela-se ao novo em meio a inúmeros dilemas e contradições na
busca da identidade nacional, por meio da compreensão da
tradição e da memória coletiva, muito embora o próprio Mia Couto
declare que “a identidade não existe, é uma procura
infinita” (COUTO, 1998). É o metaforizado ato da
escritura (das cartas) um dos possíveis caminhos que Mia Couto
utiliza para auxiliar na construção da identidade nacional, como
se vê no seguinte trecho: “Eu dou as vozes, você dá a
escritura” (COUTO, 2003, p. 65).
Moçambique, depois de anos de cativeiro, conseguiu a
independência e a autonomia por que tanto esperava e, a partir
daí, iniciou a reconstrução de sua identidade própria, pela
volta ao passado e às tradições, buscando o que lhe era inato e
relegando a um plano inferior as características da escrita
ocidental, por essa razão percebe-se uma oralidade própria e
muito marcante na obra sob análise. A africanidade, assim, nasce
do choque cultural com a metrópole e configura-se pela procura
do que é autêntico, das origens e pela rejeição a tudo o que é
colonial. Mia Couto, situado em um marco literário pós-colonial,
aparece identificado com essa busca, isto é, marcado por uma
africanidade (ligada à moçambicanidade) que se opõe à ideia de
europeidade.
|
 |
|
Mia Couto e a obra
Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
É unânime o reconhecimento da
crítica ao considerar Mia Couto um dos mais importantes autores
africanos da atualidade. No livro Um rio chamado tempo, uma
casa chamada terra, o jovem estudante universitário
Marianinho retorna à sua terra natal, Luar-do-Chão, depois de
viver por longos anos afastado da ilha, para enterrar seu avô
Dito Mariano. Ao voltar, entretanto, sente-se estrangeiro entre
os seus e em sua casa. Há, durante toda trama, indícios que
levam o leitor a perceber que a sua busca pela identidade
perdida é, na verdade, uma procura infinita que não terminará
nunca.
Enquanto viveu na cidade, longe da ilha, transformou-se
em um “mulango”, vale dizer, assumiu os hábitos dos
brancos e agora não se reconhece mais entre a sua raça. Essa
divisão entre os mundos pode ser observada já a partir da
chegada de Marianinho à ilha:
“Quando me
dispunha a avançar, o Tio me puxa para trás, quase violento.
Ajoelha-se na areia e, com a mão esquerda, desenha um círculo no
chão. Junto à margem, o rabisco divide os mundos – de um lado a
família; do outro, nós, os chegados”. (COUTO, 2003, p.
26)
Trata-se de um metafórico regresso, um verdadeiro ritual
de passagem do protagonista que volta para presenciar e
coordenar o cerimonial da morte de seu avô que, na realidade,
descobrirá que é seu pai, mas que possibilitará o seu reencontro
com suas raízes e um renascimento tanto familiar quanto pessoal.
Por ser o neto favorito do patriarca – Dito Mariano (o “munumuzana”,
isto é, o homem mais velho da família) – o protagonista recebe a
incumbência de dirigir as cerimônias fúnebres do avô, que se
recusa a ser enterrado antes de revelar uma série de intrigas e
segredos familiares que envolvem os outros personagens do livro:
seu pai, Fulano Malta; sua avó Dulcineusa; seus tios
Abstinêncio, Ultímio e Admirança (que descobrirá ser sua
verdadeira mãe) e Maravilhosa (já morta e que ele julgava ser
sua mãe). Não era apenas Marianinho que estava indo aos funerais
no Luar-do-Chão, era toda a família: “A ilha era a nossa
origem, o lugar primeiro do clã, os Malilanes. Ou, no
aportuguesamento: os Marianos” (COUTO, 2003, p. 18).
Além desse clã aparecem outros personagens que ajudam a
delinear a trama como: a cega Miserinha (amante de Dito
Mariano), o médico indiano Amílcar Mascarenha que é chamado para
atestar a morte do patriarca; o padre Nunes, o sacerdote
português que vivia na ilha; o velho ferroviário, João
Loucomotiva que tresloucado vivia perambulando pelo local; o
feiticeiro e adivinho Muana Wa Nuveti, os padrinhos portugueses
(Frederico Lopes e Maria da Conceição Lopes); além do coveiro
Curozero Muando e sua irmã Nyemberli e o velho João Sabão
assassinado misteriosamente na ilha.
Todos esses personagens gravitam em torno da morte de
Dito Mariano que permanece estranhamente semimorto, já que
embora declarado “clinicamente morto”, não o está
definitivamente por desígnios que escapam à compreensão dos
familiares e dos demais personagens. Marianinho tem a missão de
enterrar o avô, que se recusa a morrer e ser enterrado, antes de
conseguir reconstruir a história de sua família. Trata-se do
passado que se recusa a ser enterrado.
Nesse processo de reconstrução histórico-familiar,
Marianinho torna-se o guardião da memória e das tradições de
Luar-do-Chão e chega até a remover o metafórico telhado de
Nyumba-kaya, nome da casa da família, durante os dias do velório
para manter o costume local.
Durante sua permanência na ilha, o protagonista recebe
uma série de cartas anônimas que o ajudam a refazer o histórico
familiar dos Malilanes e que metaforicamente teriam sido
escritas pelo próprio avô semimorto:
“Estas cartas,
Mariano, não são escritos. São falas. Sente-se, se deixe em
bastante sossego e escute. Você não veio a esta ilha para
comparecer perante um funeral. [...] Você cruzou essas águas por
motivo de nascimento. Para colocar nosso mundo no devido lugar.
Não veio salvar o morto. Veio salvar a vida, a nossa vida. Todos
aqui estão morrendo não por doença, mas por demérito de viver
[...]. Esse é o serviço que vamos cumprir aqui, você e eu, de um
e outro lado das palavras. Eu dou as vozes, você dá a escritura.
Para salvarmos Luar-do-Chão, o lugar aonde ainda vamos nascendo.
E salvarmos nossa família, que é o lugar onde somos eternos”
(COUTO, 2003, p. 64-65).
As sucessivas cartas anônimas que progressivamente ele
vai recebendo guiam Marianinho a investigar e entender a morte
inacabada do avô e de um crime e do assassinato de João Sabão
que mantém sob suspeição os habitantes da ilha. Ele percebe que
todos os habitantes da ilha têm um segredo a revelar, tanto o
coveiro Curozero Muando e sua irmã, quanto o Padre Nunes, seus
padrinhos o casal Lopes, a cega Miserinha, o doutor Mascarenhas
e, principalmente, os membros de sua família.
O patriarca não pode ser enterrado antes de o neto
ressignificar a história do clã e saber toda a verdade que está
encoberta. É preciso “destelhar a casa” para que a história
verdadeira possa eclodir:
“Mariano, esta
é sua urgente tarefa: não deixe que completem o enterro. Se
terminar a cerimônia você não receberá as revelações [...].
Essas cartas são o modo de lhe ensinar o que você deve saber.
Neste caso, não posso usar os métodos da tradição: você já está
longe dos Malilanes e seus xicuembos. A escrita é a ponte entre
os nossos e os seus espíritos. Uma primeira ponte entre os
Malilanes e os Marianos [...]. Alguns parentes vão querer
abreviar este momento. Não deixe que isso aconteça. A sua tarefa
é repor as vidas, endireitar os destinos dessa nossa gente. Cada
um tem seus segredos, seus conflitos. Lhe deixarei conselhos
para guiar as condutas dos seus familiares” (COUTO, 2003,
p 125-126).
Cabe ao protagonista resistir à heterogeneidade dos
tempos-espaços e tranquilizar os espíritos que habitam
Luar-do-Chão e o rio Madzimi, já que ao regressar Mariano pôde
testemunhar a ação de destruição que esse tempo mítico exerce
sobre o espaço. Tudo é miséria, decadência e abandono das
tradições, forçando-o a assumir a missão de encontrar um caminho
para salvar a sua terra que é também a sua raça, sua gente, sua
história e a si próprio. É esse o belíssimo projeto fabulístico
que Mia Couto utiliza para propor, por intermédio de seu
protagonista, a necessidade de resgate e reconstrução da África
pós-colonial, que não se refere apenas à metáfora política, mas
também ao resgate da própria identidade e destino humanos. Por
essa razão, na última carta de Dito Mariano, quando consegue ser
enterrado, ele faz sua última revelação:
“Você, meu
neto, cumpriu o ciclo de visitas. E visitou casa, terra, homem,
rio: o mesmo ser, só diferindo em nome [...]. Lhe contei tudo
sobre sua família, desfiz o laço da mentira. Agora, já não
arrisco ser emboscado pelo segredo. O caçador lança fogo no
capim por onde vai caminhando. Eu faço o mesmo com o passado. O
tempo para trás eu o vou matando. Não quero isso atrás de mim,
sei de criaturas que se alojam lá, nos tempos revirados [...].
Você é meu filho. Meu maior filho, pois nasceu de uma amor sem
medida. Por isso não o escolhi para cerimoniar minha passagem
para a outra margem. Você se escolheu sozinho, a vida escreveu
no seu nome o meu próprio nome” (COUTO, 2003, p.
259-260).
|
 |
|
A moçambicanidade (1)
literária em Mia Couto
|
|
A moderna literatura moçambicana elegeu
a questão da busca da identidade cultural como “locus”
privilegiado de seu projeto estético. O contexto, as linguagens
e a atitude estética dos escritores variam, mas a condição
cultural do moçambicano é sempre tema recorrente dessa
literatura.
Segundo Joana Faria, o conceito de
moçambicanidade literária,
“ressalva o que é autêntico, a cultura
ancestral moçambicana, o culto dos antepassados, a vida tribal e
indígena, entre outros aspectos, preponderando às formas de vida
originais deste país africano sobre o mundo racional europeu”
(FARIA, 2005, p. 16).
Já para Laranjeira (1995, p. 268), a
moçambicanidade literária é definida como uma literatura de
“produção e promoção do nativismo (2), do telurismo (3) e do
casticismo (3)”, das raízes e da cultura que emolduram o estilo
de vida do moçambicano, ou seja, uma literatura dotada de
“construção ideológica determinada, como todas as ideologias”,
conforme afirma Mendonça (1995, p. 37). Portanto, podemos
considerar que a moçambicanidade literária foi um exercício
espontâneo de escritores moçambicanos, motivados pelo anseio da
afirmação de uma identidade nacional legítima através da ruptura
com os modelos literários portugueses.
A questão da moçambicanidade literária
também é explorada por Matusse (1998) que não a vê desligada da
essência da africanidade. O autor defende que a literatura
moçambicana em Língua Portuguesa constitui-se, como as demais
literaturas africanas, a partir da tradição literária europeia.
A consciência da alteridade traz a necessidade de os
intelectuais romperem com os modelos herdados e procurar novos
caminhos para firmar a sua diferença. Assim, “dada a
circunstância de se tratar de uma literatura gerada no
prolongamento da literatura e cultura portuguesas, a construção
da moçambicanidade literária deve ser vista como uma negação da
portugalidade” (MATUSSE, 1998, p. 74).
Gilberto Matusse (1998) destaca quatro
domínios na construção da imagem de moçambicanidade: o primeiro
refere-se à subversão ou dessacralização dos símbolos da cultura
de referência; o segundo caracteriza-se pela oposição ao
espírito de assimilação, recuperando os valores que são negados
e postos em confronto com os valores nativos; o terceiro aponta
para a adoção de modelos literários diferentes dos modelos
portugueses para marcar essa diferença, concomitantemente a uma
filiação ao movimento de emancipação das culturas; e,
finalmente, a reprodução de formas consagradas pela crítica como
características da moçambicanidade.
Dessa forma, a imagem de moçambicanidade
é definida por Matusse (1998) como uma prática literária em que
seus autores estão inseridos em um sistema originalmente de
tradição literária portuguesa, mas que são movidos pelo desejo
de afirmar uma identidade própria, por meio de estratégias
textuais que representem uma ruptura com essa referência. O
objetivo recorrente é, portanto, marcar a diferença filosófica,
ética e estética da literatura nacional.
Se a africanidade surge do choque
cultural com Portugal e caracteriza-se pela busca da diferença
com o que é nativo, rejeitando tudo o que é colonial, a
moçambicanidade está marcada pelo conceito de autonomia e pelo
anseio de reconfiguração cultural.
Nesse contexto, insere-se Mia Couto que
é um exemplo dessa moçambicanidade que nasce na década de 50 com
José Craveirinha. A partir dos primeiros anos de guerrilha de,
1964 até 1975, com a libertação da colônia, surge a segunda
geração da qual Craveirinha é mentor e ainda participante ativo,
seguida pela terceira geração, que abrange as décadas de 80 e
90, a qual pertence o autor sob estudo.
Mia Couto faz ecoar as tradições de
Moçambique e traz inovação literária, por meio do hibridismo e
da recriação conferida à linguagem que exercita em suas obras.
Com ele, à semelhança do que faz Guimarães Rosa na literatura
brasileira, surgem os neologismos, a livre criatividade da
palavra e a observação crítica da realidade moçambicana.
É nesse cenário, que as diversas
culturas e raças ganham expressão, que a tradição e o novo se
confrontam e é possível entender os contornos do que se vem
chamando de “moçambicanidade”.
É por meio de sua palavra poética que o
leitor pode perceber a energia do seu país e a força do seu
mundo, em relação ao qual ele se sente cúmplice do sofrimento e
da luta de um povo.
O eixo vertebral da escrita de Mia
Couto, no qual se insere o embrião da sua moçambicanidade, é a
representação da oralidade desse povo em que a memória e a
tradição constituem a base da diferença que expressa. Por meio
da inovadora linguagem que emprega na obra Um rio chamado tempo
uma casa chamada terra, Mia Couto dá voz a Moçambique de hoje e
procura um sentido para o cenário que o rodeia. Nessa obra,
constata-se uma narrativa rica em poesia e neologismos que
surgem da aglutinação entre o português e os dialetos de
Moçambique, que o faz recorrer ao discurso popular e à
intertextualização da oralidade. Constituem-se como temas do
livro sob análise: o amor à terra, a busca da identidade não
encontrada, a importância da memória, a procura da voz da terra,
o respeito à ancestralidade, a centralidade do tempo, a
esperança no futuro, o respeito à alteridade e também a
discrepância entre o parecer e o ser.
É relevante observar, também, que em Mia
Couto tudo o que é natural e original assume grande importância;
por essa razão, para produzir diferentes configurações da ideia
de nação, o autor utiliza de forma recorrente as forças
essenciais do mundo: a água, o ar, o fogo e a terra como imagens
que simbolizam diferentes conceitos dos quais trataremos no item
a seguir.
|
 |
|
A identidade
africana expressa pelas forças da natureza e pelo tempo,
em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
As referências ao rio Madzimi, à chuva, ao céu, ao vento,
às árvores, ao fogo e à terra que se recusa a receber um morto,
à casa Nyumba-kaya e ao tempo são referências recorrentes nessa
obra e servem como suportes metafóricos, quase alegóricos,
usados como referências à identidade africana.
O tempo, metaforizado pelo rio, é um elemento essencial
no livro e não se refere apenas ao “chrònos”, entendido
como o tempo mensurável, mas, sobretudo ao “kairòs”, isto
é, ao tempo mítico da fruição humana que ressalta o poder da
memória coletiva e da aprendizagem por que passa Marianinho,
estabelecendo a dualidade entre o antes e o depois, o passado,
em detrimento do presente e do futuro que está por ser
construído: “O rio é como o tempo! Nunca houve princípio,
concluía. O primeiro dia surgiu quando o tempo já se havia
estreado” (COUTO, 2003, p. 61). Nesse fragmento,
antevê-se uma óptica que opõe ao tempo cronológico, que é
cíclico, o tempo kairótico da eterna reconstrução humana. Os
personagens vivem em outro tempo, o da fruição, o da busca da
identidade nacional, que está latente antes dos tempos
cronológicos, só possível de ser alcançado através dos elementos
naturais.
A água é outro elemento recorrente na obra e talvez possa
estar relacionada com a origem do mundo e com a maternidade, com
a matriz essencial para a existência do homem. Trata-se da
simbologia mais fortemente marcada no livro, sob a forma do rio
ou da chuva, metaforizando talvez a pureza, a limpeza e a
purificação que o processo de autoconhecimento humano deve
trazer:
“Nenhum país é
tão pequeno como o nosso. Nele só existem dois lugares: a cidade
e a ilha. A separá-los, apenas um rio. Aquelas águas, porém,
afastam mais do que a própria distância. São duas nações mais
longínquas que planetas. Somos um povo, sim, mas de duas gentes,
duas almas” (COUTO, 2003, p.18).
Nesse fragmento, é possível perceber que o rio (água)
simboliza a força capaz de reestruturar uma nação perdida no
tempo, mas também o elemento que separa e denuncia divergências
culturais. O rio foi responsável pela morte de sua mãe, que
morreu afogada para poder redimir-se de seus pecados. A mesma
função apresenta a chuva no trecho: “Desde o funeral que
não pára de chover. Nos campos, a água é tanta que os charcos se
cogumelam aos milhares” (COUTO, 2003, p. 243). Somente
depois de descoberta a verdadeira história do protagonista,
quando ele já está purificado, a chuva cessa, pois não é mais
necessária.
O avô, Dito Mariano, também insiste em ser enterrado
próximo ao rio:
“Me leve para o
rio. Já chegou o meu tempo [...] Pois eu quero ser enterrado
junto ao rio. É lá que deverei ser enterrado. Eu sou um
mal-morrido. Já viu chover nestes dias? Pois sou eu que estou
travando a chuva. Por minha culpa, a lua, mãe da chuva, perdeu a
gravidez. Sabe Marianinho? Quando você nasceu eu lhe chamei de
‘água’. Mesmo antes de ter nome de gente, essa foi a primeira
palavra que lhe ditei: madzi. E agora lhe chamo outra vez de
‘água’. Sim, você é a água que me prossegue onda sucedida em
onda, na corrente do viver” (COUTO, 2003, p. 238).
É essa metáfora de continuidade de vida, de força, de
luta e de purificação que acompanha a imagem da água durante
todo o livro, transmitindo também a ideia de recomeço, de
esperança como resultado natural da desgraça.
E, finalmente, a terra é outro elemento simbólico que
aparece repetidas vezes, neste livro de Mia Couto, para
simbolizar a base, o chão, a estrutura que prende Marianinho às
suas raízes, àquilo que o país foi e que se deve preservar.
No livro, está presente a ideia de que a terra associada
à casa Nyumba-kaya é o porto seguro de Marianinho e contempla
afundo todos os demais elementos: rio, mar, homem: “Você,
meu neto, cumpriu o ciclo de visitas. E visitou terra, homem,
rio: o mesmo ser, só diferindo em nome. Há um rio que nasce
dentro de nós, corre por dentro da casa e deságua não no mar,
mas na terra. Esse rio uns chamam de vida” (COUTO, 2003,
p. 258).
A vida de todos os personagens passa pela casa, metáfora
da continuidade e do retorno às origens. É somente pelo
empoderamento e reconquista da própria história que se torna
possível recuperar a identidade. O protagonista percebe que a
terra/casa lhe pertence que ele é a própria casa e não será
preciso “vendê-la” a estranhos, porque o chão tem de ser
preservado e amado, para que ocorra a continuidade da existência
de um povo:
“Essa casa
nunca será sua, Tio Ultímio. – Ai não?! E porquê, posso saber? –
Porque essa casa sou eu mesmo. O senhor vai ter que comprar a
mim para ganhar posse da casa. E para isso, Tio Ultímio, para
isso nenhum dinheiro é bastante!” (COUTO, 2003, p. 249).
|
 |
|
Considerações
finais
“O bom do
caminho é haver volta. Para ida sem vinda
basta o tempo” (COUTO,
2003, p. 123).
Este artigo não se propôs à tarefa de ser um estudo
exaustivo da obra de Mia Couto, mas uma reflexão direcionada
para os índices de moçambicanidade presentes em Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra, que pudessem
delinear, contextualizadamente, a busca da identidade nacional
na obra estudada. Tal objetivo foi alcançado.
Não é de se espantar que o Realismo Maravilhoso de Mia
Couto gere simpatia em seus leitores, pela simplicidade com que
retrata a busca da identidade de Moçambique. O autor trabalha
ludicamente com as palavras e expõe uma visão simples do mundo
que transporta o leitor para a singeleza do enredo que
apresenta. Ele parece ser o mediador entre as histórias que ouve
e o leitor que as consome, colocando sua escrita como
fomentadora de sonhos.
Em certos momentos, o leitor sente-se Marianinho ao ler
as cartas de seu avô: “Aquelas cartas me fizeram nascer um
avô mais próximo, mais a jeito de ser meu. Pela sua grafia em
meus dedos ele se estreava como pai e eu renascia em outra vida”.
(COUTO, 2003, p. 257).
Se os manuscritos de Dito-Mariano cumpriram sua missão, o
livro de Mia Couto também o faz, pois converte o leitor em um
viajante entre esses mundos fabulísticos que o texto apresenta e
a realidade.
Utilizando polifonicamente as palavras do patriarca,
concluímos que o leitor que visita essa obra “encontrará
não a folha escrita, mas um vazio que você mesmo irá preencher
com suas caligrafias”, pois há grandeza em sua palavra
pontuada por espaços que ele nunca tocou...mas sugeriu...
|
 |
|
Referências
bibliográficas
COUTO, Mia. “Escrita desarrumada”. Folha de São Paulo, São
Paulo, 18 de novembro de 1998.
COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São
Paulo, Companhia da Letras, 2003.
FARIA, Joana Daniela Vilaça. “Mia Couto-Luandino Vieira: uma
leitura em travessia pela escrita criativa ao serviço das
identidades”. Braga, Universidade do Minho, 2005 (Dissertação de
Mestrado).
HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa
(cd-rom). Rio de Janeiro, Objetiva, 2001.
LARANJEIRA, Pires. Literaturas Africanas de Expressão
Portuguesa. Lisboa, Universidade Aberta, 1995.
LEITE, Fábio. "Valores civilizatórios em sociedades
negro-africanas". África: Revista do Centro de Estudos
Africanos. São Paulo, Universidade de São Paulo, 1995/1996,
p.103-118.
MATUSSE, Gilberto. A construção da Moçambicanidade em José
Craveirinha, Mia Couto e Ungulani Ba Khosa. Maputo, Livraria
Universitária/UEM, 1998.
MENDONÇA, Fátima. “A Literatura Moçambicana em
Questão”. Discursos: Literaturas Africanas e Língua Portuguesa,
Coimbra, Universidade Aberta, No. 09: 37-40, 1995.
|
 |
*Doutorando e Mestre
em Letras com foco em Literatura Infanto-Juvenil e Educação
(FFLCH-USP). Especialista em Direito Constitucional (Direitos
Humanos) pela Faculdade Autônoma de Direito (FADISP) e em
Psicopedagogia Clínica e Institucional (UNINOVE). Bacharel em
Direito e licenciado em Pedagogia (UNINOVE). Professor de ensino
superior (UNINOVE) e colaborador dos grupos de pesquisa
Tempo-Memória: Educação, Literatura e Linguagens (UNINOVE/CNPq)
e Literatura Infantil/Juvenil e Sociedade (FFLCH-USP).
(1) A
primeira vez que a palavra moçambicanidade surgiu
foi nos jornais O Africano (1909-1918), O
Brado Africano (1918) e O Itinerário (1919),
fundados pelos irmãos José e João Albasini.
(2) A
palavra nativismo se refere a “atitude ou
política de favorecer os habitantes nativos de um país”
(Cf. Dicionário Etimológico Houaiss).
(3) A
palavra telurismo se refere a “influência
do solo de uma região sobre o caráter e os costumes de
seus habitantes” (Cf. Dicionário Etimológico
Houaiss).
(4) A
palavra casticismo se refere a “pureza e/ou
perfeição de linguagem; vernaculismo” (Cf.
Dicionário Etimológico Houaiss).
|
| |
|