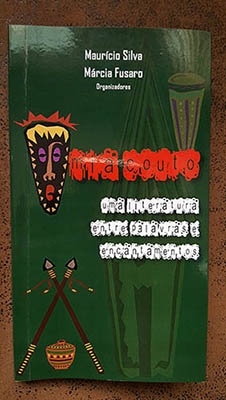| |
| |
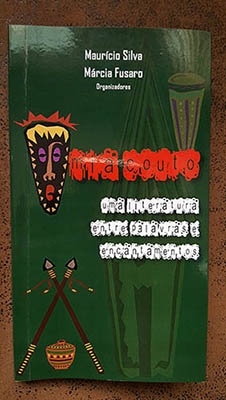 |
MAURÍCIO SILVA &
MÁRCIA FUSARO
Organizadores
MIA COUTO
Uma literatura entre palavras
e encantamentos
São Paulo, 2011
ÍNDICE
|
|
 |
Terra sonâmbula:
Mia Couto e o galinheiro da história
SUELI SARAIVA*
|
|

|
| |
|
A ideia de identidade
nacional refletida nas obras de ficção moçambicanas acompanhou o
nascimento desse país como Estado-nação, constituindo, por
conseguinte, os traços característicos de uma moçambicanidade
literária (MATUSSE, 1998) (1).
É justificável, neste contexto, a preocupação
em reiterar que “o autor, ao produzir o texto, constrói um mundo
possível, de acordo com a percepção que tem do mundo actual, da
sua experiência vivencial e da sua intenção de o representar
numa determinada perspectiva” (ibid., p. 71), pois é reconhecida
a proximidade dos textos moçambicanos com o real empírico
(eventos históricos, sociais, políticos etc.), que pode outorgar
à escrita de ficção uma legítima refração da realidade.
Partindo dessa
perspectiva, é possível observar que se na ficção de Mia Couto
as construções/recriações linguísticas, já extensamente
estudadas, não resultam “de uma atitude realista, do desejo de
produzir um efeito de real” (MATUSSE, 1998, p. 103), o
mesmo não pode ser dito de suas opções temáticas. “O desejo de
contar e de inventar”, assumido pelo escritor como premissa de
sua arte de narrar, conforme avisa na introdução de seu primeiro
livro de contos, Vozes anoitecidas (COUTO, 1986),
transpassa a fronteira porosa entre realidade e ficção para
tingir suas páginas literárias com as cores encarnadas da
realidade vivida.
Com o olhar do jovem que
testemunhou o estertor do colonialismo, as lutas de
independência e as mudanças advindas da autonomia conquistada,
já em seu aclamado romance, Terra sonâmbula (1ª edição:
1993), Mia Couto desenha um panorama do cenário imediato
pós-1975, com foco na hecatombe dos conflitos armados surgidos
no desfraldar da bandeira soberana. O enredo é dividido em duas
narrativas (a história primária do velho Tuahir e do menino
Muidinga, e o relato encaixado, os Cadernos de Kindzu), além
ainda de uma pequena narrativa subencaixada nos “Cadernos” (os
relatos de Farida). Além das agruras de um tempo de caos e
perplexidade, o enredo deixa entrever os ovos de outras
serpentes que eclodiriam na sociedade moçambicana quando
finalmente a paz fosse instaurada, após quase suas décadas de
lutas fratricidas.
Nesta que é a primeira
prosa longa de Mia Couto, os tempos narrados revisitam o
estertor do colonialismo (nas rememorações de Farida), a euforia
da chegada da libertação nacional (o nascimento de Junhito) e a
perda das ilusões (a caminhada sem destino de Tuahir e Muidinga,
e a peregrinação para a morte de Kindzu).
No enredo principal, o
menino Muidinga, personagem destacado ao lado do velho Tuahir,
perambula por uma “estrada morta”, após ser encontrado
moribundo, sem identidade e sem memória. A dupla intergeracional
mais conhecida do romance moçambicano, o velho Tuahir e o menino
Muidinga, já foi amplamente analisada ao longo de mais de duas
décadas desde a publicação da obra. A chave para a misteriosa
identidade do desmemoriado menino Muidinga se encontra no enredo
paralelo, nos escritos de Kindzu. O Autor dos escritos é um
jovem assassinado na estrada por onde os viajantes caminham;
sendo os “Cadernos” encontrados na bagagem do morto. Sua
leitura, feita por Muidinga para entreter o mais-velho,
nos chega simultaneamente em mise en abyme, permitem
transitar por outras esferas espaciais e temporais; de tal modo
a complementar a narrativa principal, traduzindo “em português
legível” os crimes cometidos naqueles anos em que “só as hienas
se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras”, como dirá
outra personagem de Mia Couto, o “Tradutor” de Tizangara (COUTO,
O último voo do flamingo 2005, p. 9).
Terra sonâmbula
é, portanto, a história de viajantes que perderam o mapa de seus
destinos. Estagnados pela guerra e outras violências, caminham
em passo falso, girando sobre o próprio eixo, como em rotação
terrestre. Seguem aguardando a hora da chegada das sonhadas
justiça e igualdade. Tal e qual o velho e o menino fugindo de
uma guerra sem rota de fuga, as gentes moçambicanas seguiam “à
espera do adiante. [...] na ilusão de, mais além, haver um
refúgio tranquilo” (COUTO, 1995, p. 9). Mas, o desejo de fugir,
partir, viajar torna-se irrealizável quando os indivíduos são
surrupiados em sua subjetividade e humanidade. Símbolos de um
povo, as personagens em incerto trânsito estão presas numa
“estrada morta” onde “a única coisa que acontece é a consecutiva
mudança da paisagem” (COUTO, 1995, p. 77): Além da caminhada em
360º do velho e do menino, também Kindzu parte de sua aldeia,
fugindo da destruição da guerra e em busca de um sentido de
identidade, mas chega em outra vila onde o que muda é,
novamente, apenas a paisagem: novas cores da destruição causada
pela mesma guerra. Não por acaso, o romance é atravessado por
figuras que sofrem de sonhos e enlouquecem como o pai de Kindzu
(COUTO, 1995, p. 18), ou que sucumbiram à impotência e se
tornaram sombras, como aconselhava a mãe do narrador dos
“Cadernos”: “Ela nos ensinava a sermos sombras, sem nenhuma
outra esperança senão seguirmos do corpo para a terra” (COUTO,
1995, p. 20).
Num primeiro plano, o
enredo põe às claras o sofrimento de uma nação que sonhou com o
glorioso day after da libertação nacional, mas viu-se,
por dezesseis anos, mergulhada na violência dos conflitos
armados, sendo que os inimigos do turno já não tinham contornos
definidos, como foi o caso do invasor europeu. Contudo, num
plano complementar, a construção alegórica que estrutura o
romance deixa entrever que os “inimigos”, quaisquer que fossem,
seriam aqueles que se deixaram mover por interesses contrários
aos preceitos ideológicos e ao sonho da nação imaginada: “Pouco
a pouco nos tornávamos outros, desconhecíveis. Eu vi quanto
tínhamos mudado foi quando mandaram o irmão mais pequeno para
fora de casa” (COUTO, 1995, p. 20), lamenta o narrador Kindzu.
O irmão que foi mandado
para fora de casa é a personagem Junhito, de quem a
representação é emblemática da paulatina morte da utopia no
imediato pós-independência. Nascido no dia da proclamação da
independência (25 de junho) é alcunhado em referência à data e
indicia a sua função alegórica. O pai da família, o velho Taímo,
que profetizava as notícias do futuro pela voz dos antepassados,
certo dia vestiu-se formalmente — “se gravatara, fato e sapato
de sola. A sua voz não variava em delírios” (COUTO, 1995, p. 19)
— para anunciar emocionado “um fato: a Independência do país”
(ibid.). Desta vez, o velho que “sofria de sonhos” (COUTO, 1995,
p. 18) trazia uma notícia concreta, a revelação de uma verdade,
de um fato que coincidiria com o nascimento de seu filho:
"Nessa altura, nós nem sabíamos o
verdadeiro significado daquele anúncio. Mas havia na voz do
velho uma emoção tão funda, parecia estar ali a consumação de
todos seus sonhos. Chamou minha mãe e, tocando sua barriga
redonda como lua cheia, disse:
— Esta criança há de ser chamada
de Vinticinco de Junhoi" (COUTO, 1995, p. 19).
Mas, logo se percebeu
que a criançA (2) vindoura não
comportaria tamanho estatuto nominal: “Vinticinco de Junho era
nome demasiado. Afinal, o menino ficou sendo só Junho. Ou de
maneira mais mindinha: Junhito. Minha mãe não mais teve filhos.
Junhito foi o último habitante daquele ventre” (COUTO, 1995,
p. 19). Ao decidir pela abreviação do nome da criança (que
encerrou a fertilidade materna), a narrativa simboliza a
independência do país, que já nasce abreviada, encerrando um
sonho fértil de esperança, conforme a crítica empenhada na
narrativa. O pai-adivinhador talvez suspeitasse que o “vinte e
cinco de junho” como sinônimo de independência total, no sentido
apregoado pela “geração da utopia” ainda não chegara, assim como
acontecera com outro vinte e cinco, o de abril de 1974
(3). Antes mesmo de ser oficialmente promulgado o nome
(da criança e do fato histórico alegorizado) foi podado até o
diminutivo, “ficou sendo só Junho. Ou de maneira mais mindinha:
Junhito”:
"No princípio só escutávamos as vagas novidades, acontecidas no
longe. Depois, os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue
foi enchendo nossos medos. A guerra é uma cobra que usa nossos
próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em
todos os rios de nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não
sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos".
A nova guerra, a chamada
“civil”, ou guerra de desestabilização, inflamou o recôndito da
alma humana (“usa nossos próprios dentes para nos morder”),
contaminou a incipiente unidade nacional e instilou o veneno da
fragmentação e do caos no seio das famílias: “Aos poucos eu
sentia a nossa família quebrar-se como um pote lançado ao chão.
[...]. Nós estávamos mais pobres que nunca. Junhito tinha os
joelhos escapando das pernas, cansado só de respirar” (COUTO,
1995, p. 19).
Na tentativa de salvar
Junhito de uma morte pressentida (pelas armas dos desvalidos no
processo de independência), o pai manda o filho camuflar-se na
capoeira (o galinheiro): “Ali Junhito aprenderia a comportar-se
como as galinhas, comendo as sobras e dormindo ao relento.
Resignado a sobreviver sem glória, sem brilho, sem substância”
(COUTO, 2005c, p. 193). Ou seja, mal havia nascido e já devia
abdicar de seu pertencimento ao mundo dos humanos. Na cultura
africana, em que os laços familiares regem, em geral, a dinâmica
da vida e da morte, o ato de “[mandar] o irmão mais pequeno para
fora de casa” é crime de lesa-tradição familiar africana.
Além de denunciar a
perda do lastro familiar, podemos pressupor que essa
performatização da memória da independência descreve as
tentativas ocorridas, às vezes equivocadas, de preservar
politicamente a liberdade recém-conquistada. Tal visão crítica,
portanto, acrescenta às ações dos “inimigos de fora”, as
próprias decisões dos novos governantes que, em seu desejo de
consolidar, em meio ao caos, um projeto de nação — primeiro pelo
viés socialista e depois pela chancela do neoliberalismo
—acabaria por remeter a nova condição política ao “galinheiro da
história”: local dos bichos domesticáveis, exploráveis e
antropofagizáveis. Preso em tal galinheiro, tal e qual o sonho
da independência, em pouco tempo Junhito perderia a sua
identidade original: “Uma manhã, a capoeira amanheceu sem ele.
Nunca mais, o Junhito. Morrera, fugira, se infinitara? Ninguém
acertava” (COUTO, 1995, p. 22). Talvez o humano tenha se
convertido definitivamente em bicho; afinal, “Junhito já nem
sabia soletrar as humanas palavras. Esganiçava uns cóóós e
ajeitava a cabeça por baixo do braço. E assim se adormecia”
(ibid.).
O desaparecimento da
esperança, ainda na infância da libertação nacional,
potencializa o desequilíbrio individual e social. O velho Taímo
que “se gravatara, fato e sapato de sola” para anunciar a
“consumação de todos os seus sonhos” foi o que mais enlouqueceu
com esse desaparecimento precoce: “O desaparecimento de meu
irmão treslouqueceu toda nossa casa. Quem mais mudou foi meu
pai. Aos poucos foi deixando as demais ocupações, alvorando e
anoitecendo na beberagem” (COUTO, 1995, p. 23).
Em intervenção proferida
na Suíça, por ocasião dos 30 anos de Independência de Moçambique
(4), o próprio Mia Couto explica o seu
intento criativo na alegorização da personagem Junhito, o
prometido menino-esperança que se torna símbolo do tolhimento da
nação:
"Na altura [da criação da personagem], eu denunciava a nossa
progressiva perda de soberania, e uma crescente domesticação do
nosso espírito de ousadia. Poderíamos ser nação mas não
demasiado, poderíamos ser povo mas apenas se bem comportado"
(COUTO, 2005b, p. 193).
Para representar no
plano ficcional essa situação de perda de integridade coletiva,
as ações transcritas nos “Cadernos de Kindzu” situam-se em
Matimati, uma vila de pescadores, que recebe uma multidão de
deslocados da guerra, vindos de diversas zonas rurais em busca
do precário refúgio no litoral. O espaço ficcional litorâneo tem
especial pertinência no enredo. O mar é tanto um ilusório portal
de fuga da geografia de miséria quanto um horizonte de
esperança, para onde se voltam os olhos famintos daqueles que
apenas aguardam em terra firme o que outras ondas possam trazer.
|
 |
Uma nação à beira da
praia
Em Terra sonâmbula, a imagem
da baleia que encalha na praia (COUTO, 1995, p. 27) ilumina o
sentido do tempo do narrado, isto é, um tempo em que os sonhos
grandiosos dos anos de luta pela independência encalharam na
praia da desesperança e da luta pela sobrevivência, mas também
da ganância e do egoísmo de alguns dos que detinham o poder. A
sonhada independência, aquela em que todos seriam justiçados por
seu histórico feito, seria tão fenomenal quanto a visão do maior
mamífero marinho. Mas, em ambos os casos, a chegada
grandiloquente deu lugar a uma visão apocalíptica: a
independência condenada pela guerra, e a baleia condenada pela
irreversibilidade do encalhe. Em situação de fragilidade, ambas
despertando desejos de apropriação e usurpação. O episódio da
baleia moribunda é parte da memória de infância de Kindzu, que,
em menino, vigiava o mar ao entardecer na esperança de avistar o
magnífico animal:
"Ouvíamos a baleia mas não lhe víamos. Até que, certa vez,
desaguou na praia um desses mamíferos, enormão. Vinha morrer na
areia. Respirava aos custos, como se puxasse o mundo nas suas
costelas. A baleia moribundava, esgoniada. O povo acorreu para
lhe tirar carnes, fatias e fatias de quilos. Ainda não morrera e
já seus ossos brilhavam no sol. Agora eu via o meu país como uma
dessas baleias que vêm agonizar na praia. A morte nem sucedera e
já as facas lhe roubavam pedaços, cada um tentando o mais para
si. Como se fosse o último animal, a derradeira oportunidade de
ganhar uma porção. De vez em quando me parecia ouvir ainda o
suspirar do gigante, engolindo vaga após vaga, fazendo da
esperança uma maré vazando" (COUTO, 1995, p. 26-27).
A metáfora é iluminadora
tanto do advento da independência (“Até que, certa vez, desaguou
na praia [...]”) quanto à denúncia das atrocidades
cometidas contra uma nação agonizante. Na conclusão da cena,
Kindzu (símbolo do presente) lamenta: “Afinal, nasci num tempo
que não acontece. A vida, amigos, já não me admite” (ibid.). O
fato de a imagem rememorada por Kindzu trazer como
aproveitadores da baleia indefesa “o povo” em seu exercício de
sobrevivência, deixa entrever que o estado de violência que,
metaforicamente, se estabelece contra a terra, é histórico e
resulta, também, da luta cotidiana pela vida; no entanto, é
indubitável sobre quem de fato as farpas da crítica recaem. Já
em outra cena de semelhante violência contra o “corpo africano”,
o narrador que conduz a história de Tuahir e Muidinga explica
que um elefante é morto pelos homens da guerra, não para
alimentar-se de sua carne, mas para obter lucro com a venda do
marfim. O velho e o menino são surpreendidos em seu refúgio, no
ônibus incendiado, pelo enorme visitante:
"Por entre os altos capins, assoma um elefante. O bicho se
arrasta, cansado do seu peso. Mas há no demorar das pernas um
sinal de morte caminhando. E, na realidade, se vislumbra que, em
plenas traseiras, está coberto de sangue. O animal se afasta,
penoso. Muidinga sente o golpe de agonia em seu próprio peito.
Aquele elefante se perdendo pelos matos é a imagem da terra
sangrando, séculos inteiros moribundando na savana" (COUTO,
1995, p. 46).
Assim, as imagens dos dois gigantes
sendo violentados, ora por uma suposta necessidade, ora pela
ganância, remetem a um longo processo histórico de abusos,
praticados também pelos “filhos da terra”.
|
 |
|
Narrativas dípticas
Historicamente, a violência dos
conflitos armados (guerra civil) em Moçambique que deu a matéria
narrativa de Terra sonâmbula teria o seu desfecho com a
assinatura do “Acordo de Paz”, em 1992, mediado por forças
externas tutoras. Tal solução negociada e seus desdobramentos
para o país constituem o pano de fundo do terceiro romance de
Mia Couto, O último voo do flamingo (1ª edição: 2000).
A obra,
refletindo o “sonho diurno” (Bloch) natimorto – Junhito e o
galinheiro –, articula-se numa sequência temporal, da guerra
para a paz, estabelecendo com o primeiro romance uma
intertextualidade que confirma o projeto literário coutiano como
linearmente progressivo (6). Para além
de alguns elementos narrativos de Terra sonâmbula (textos
encaixados, narrador testemunha, espaço metonímico), O último
voo... recupera e desenvolve a caracterização de
personagens, de forma direta ou indireta.
As referências cruzadas
entre as situações narrativas, as caracterizações das
personagens e a configuração do espaço com as emblemáticas
figuras do poder, atingem o paroxismo na transposição direta de
uma personagem, de Terra sonâmbula para O último
voo..., levando o seu nome e cargo ocupado no primeiro
romance: o administrador Estêvão Jonas. O corrupto mandatário,
que no primeiro romance firmou um pacto com o espectro do
colonialismo, aterrissa em O último voo... com seu poder
fortalecido e já encorpado como representação de um grupo: as
elites pós-coloniais. Esse grupo social que, tanto em Moçambique
quanto em outros espaços africanos no século XX, experimentou,
de uma ou de outra forma, as três faces de sua história recente:
o estertor do colonialismo, a guerra civil e o tempo de paz.
A recorrência dessa
personagem-tipo caricatural na obra de Mia Couto, parece
advertir, dialogando com Balandier que:
"Já se disse que o revolucionário, desde que triunfa e se
estabelece para governar se torna uma caricatura. É que há uma
passagem da comunhão libertadora para a dominação instituída, do
ato que sacrifica e destrói um poder ao de fundação que
estabelece um outro. Durante este período de transfiguração,
todos os caracteres ficam de qualquer modo deformados pelo
aumento, e, especialmente pelo aspecto dramático da instituição
política" (1982, p. 9).
Uma das críticas
formuladas por Mia Couto em suas intervenções se refere ao uso
da miséria material para o que ele aponta como um modo de
comover a comunidade internacional e dela receber as chamadas
ajudas humanitárias (a crítica, fica claro, não necessariamente
está na ajuda, mas no uso político ou pessoal que se faz dela).
Basta recordarmos que em Terra sonâmbula o epicentro dos
conflitos é um navio de donativos internacionais que naufraga
misteriosamente ao se aproximar da baía de Matimati para
socorrer os milhares de deslocados da guerra ali reunidos. O
acidente, suspeitam os miseráveis, seria obra das próprias
autoridades locais, interessadas em controlar a preciosa carga,
não para a devida distribuição, mas para dela tirar proveitos.
Tal argumento acusatório
é recorrente em seus romances e os recursos literários usados
para expressar tal situação vão da alegoria à farsa, como
comprovam as palavras de Jonas, eximindo-se de qualquer
responsabilidade, transformando a população oprimida por sua
administração em culpada pela própria sorte:
"— Ás vezes quase desisto de vocês, massas populares. Penso: não
vale a pena, é como pedir a um cajueiro para não entortar seus
ramos. Mas nós cumprimos destino de tapete: a História há-de
limpar os pés nas nossas costas" (COUTO, 1995, p. 69).
Já em tempos de paz (n’O último
voo...), exacerba-se o egoísmo pela violência concreta, pois
além de sonegar a venda de alimentos subsidiados pelo governo
aos flagelados por uma economia destroçada, Estevão Jonas é
ainda acusado de “replantar” minas antipessoais (um dos mais
cruéis artefatos de guerra já inventados); afinal, entre outras
calamidades, elas atraíam a atenção e a benemerência
internacional, cujo mau uso era vislumbrado por indivíduos ou
grupos corruptos.
|
 |
|
Considerações finais
O primeiro caderno de
Kindzu, intitulado “O tempo em que o mundo tinha a nossa idade”,
o narrador inicia a sua história afirmando a dificuldade de
transcrever “em português visível” (como dirá o seu análogo em
O último voo...) aquilo que ele assistiu e vivenciou: um
tempo de catástrofe:
"Quero pôr os tempos, em sua mansa ordem, conforme esperas e
sofrências. Mas as lembranças desobedecem, entre a vontade de
serem nada e o gosto de me roubarem do presente. Acendo a
estória, me apago a mim. No fim destes escritos, serei de novo
uma sombra sem voz" (COUTO, 1995, p. 17).
Ao final da narrativa,
ele retoma esse lamento angustiado:
"Agora era como se esses fantasmas trabalhassem em minha cabeça
para me transmitirem seus segredos, revelações de um outro
mundo. Vou relatar o último sonho a ver se me livro do peso de
terríveis lembranças. Não quero que tais pensamentos me
regressem. Preciso dormir, totalmente dormir, me emigrar deste
corpo cheio de esperas e sofrências" (COUTO, 1995, p. 240).
Ao assumir a tarefa de
registrar em palavras escritas essa realidade quase
inverossímil, uma atmosfera de sombras e engodos, Kindzu
torna-se, ele próprio, um sonâmbulo. Comporta-se como um
narrador, cujo estatuto não é o de apenas intrometer-se, opinar,
questionar, mas como aquele que circula por um mundo que é o
seu, mas ao mesmo tempo não é – como o assimilado que fora no
tempo colonial, sabendo, de fato, o engodo da situação
(7). Como eco intelectual de seu criador, ele
assiste a tudo, ouve relatos e testemunhos e impõe-se a dúvida
quanto ao estado de onirismo em que pode estar envolvido.
“Talvez, quem sabe, cumprisse o que sempre fora: sonhador de
lembranças, inventor de verdades. Um sonâmbulo passeando entre o
fogo. Um sonâmbulo como a terra em que nascera” (COUTO, 1995, p.
130).
O projeto literário de
Mia Couto especialmente exemplificado por Terra sonâmbula
revela, pela via da ficção, inquietações sobre os caminhos da
terra em que nasceu como o fruto de mundos dissonantes. O
escritor africano subsaariano branco, filho de ex-colonos e que
não deixa dúvidas sobre a sua “moçambicanidade” desempenha, sem
concessões político-ideológicas, o seu próprio papel de
narrador, ou “tradutor” deste mundo, que, afinal, é o seu espaço
de existência e que persiste, nesses quarenta anos de
independência política, a questionar se “No passado o futuro era
melhor?”, isto é, se o horizonte vislumbrado no pré-1975 não
teria prometido cores mais brilhantes do que os indefinidos
matizes da opaca história que ainda procura escapar do
“galinheiro” em que foi colocada.
|
 |
Referências Bibliográficas
BALANDIER, Georges. O poder em cena. Trad. Luiz Tupy Caldas de
Moura. Brasília: Editora da UNB, 1982.
COUTO, Mia. Terra Sonâmbula. Lisboa: Editorial Caminho, 1993;
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
COUTO, Mia. O Último Vôo do Flamingo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2005.
COUTO, Mia. "Moçambique – 30 anos de independência: no passado,
o futuro era melhor? (Ensaio)". Via Atlântica, Universidade de
São Paulo, São Paulo, No. 8, 2005b.
LEITE, Ana Mafalda. Oralidades & escritas nas literaturas
africanas. Lisboa: Ed. Colibri, 1998.
MATUSE, Gilberto. A construção da imagem de moçambicanidade em
José Craveirinha, Mia Couto e Ungulani Ba Ka Khosa. Maputo:
Livraria Universitária, UEM, 1998.
|
 |
| *Doutora
em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela
Universidade de São Paulo. É autora do livro
Boaventura Cardoso, Mia Couto e a experiência do tempo
no romance africano (São Paulo, Terceira
Margem, 2012). Professora da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). |
(1) O pesquisador
moçambicano reitera, por óbvio que pareça, que “o texto
literário constrói um mundo fictício através do qual
modeliza o mundo actual, representando-o metafórica ou
metonimicamente, instituindo, portanto, uma referencialidade
mediatizada” (MATUSE, 1998, p. 70).
(2) A infância é
uma temática constante nas literaturas africanas, e não
apenas como alegoria da esperança no devir, mas também como
a representação de um futuro natimorto, impedido de
florescer em meio à luta cotidiana pela sobrevivência. Já em
Vozes anoitecidas (1986), no conto "A menina de
futuro torcido", Mia Couto denuncia a aniquilação do corpo
infante num pacto fracassado com o destino. O esgotamento do
futuro ainda em sua meninice é alegorizado pela
transformação que um pai, sonhando com dias melhores para a
miserável família, impõe à pequena filha, tentando
transformá-la numa contorcionista e negociá-la com um
empresário do tipo circense. Em decorrência dos severos
exercícios corporais, pelos quais ela deveria "amolecer os
ossos" e aprender a curvar-se até o chão como uma
invertebrada, ela não somente não salva a família da
miséria, bem como tal atrocidade rouba-lhe a vitalidade até
à morte.
(3) Como lamenta
a personagem de Mia Couto, na comemoração dos colonos, em 25
de abril de 1974: “Vinte e cinco é para vocês que vivem nos
bairros de cimento. Para nós, negros pobres que vivemos na
madeira e zinco, o nosso dia ainda está por vir” (COUTO,
1999, p. 11, grifo nosso). Esse dia ansiado também foi
celebrado efusivamente em 25 de Junho de 1975 pelos pobres
dos bairros de zinco, “mesmo que, na altura, lhes pesasse a
leve suspeita de que a libertação da miséria é um processo
que demora ainda várias gerações” (COUTO, 2005, p. 58).
(5) “Moçambique
— 30 anos de Independência: no passado, o futuro era
melhor?”. O texto está reproduzido na Revista Via
Atlântica, nº 8, São Paulo: FFLCH,USP, 2005, p. 191-204.
(6) A tríade romanesca coutiana que
tematiza num movimento cumulativo, os primeiros anos da
independência moçambicana (Guerra → Identidade nacional →
Paz) é formada, respectivamente, por: Terra Sonâmbula,
A varanda do frangipani e O último voo do flamingo.
Os dois primeiros localizam-se temporalmente no período da
guerra civil. Mas, se no primeiro o foco é o re-equilíbrio
social e a denúncia dos abusos em tempo de caos, no segundo,
o enredo questiona não apenas o "golpe" contra o povo em
seus direitos básicos, mas o "golpe contra o antigamente"
(COUTO, 2008, p. 98), um golpe contra o que se poderia
chamar de moçambicanidade histórica, de respeito também às
formas do passado, ali representadas pelos velhos insulados
(LEITE, 1998, p. 71). Já no terceiro (UVF) há uma clara
retomada de diálogo com o primeiro romance, sem deixar de
contemplar, também, temas abordados em A varanda...
(7) Kindzu sente-se provocado e
ameaçado pela palavra “patrão” que ouve dirigida a si pela
boca de um desafeto que, por inveja, condenava sua
assimilação aos valores branco-europeus: “Patrão. Aquele
moço teimava em chamar-me assim. Em sua boca aquele termo
surgia como ofensa, um cuspe azedo. Mostrava que, apesar de
meus modos assimilados, eu pertencia à sua raça. Um dia iria
pagar ter traído essa condição” (COUTO, 1995, p. 132).
|
| |
|