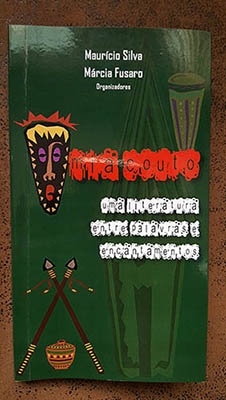|
Nos tempos românticos do
bom selvagem, um indígena americano ou asiático visitava a
metrópole europeia para lançar uma mirada crítica à civilização.
Ou então um representante da superior civilização coligia
exaustivas informações in loco acerca do modo de vida dos
selvagens, a que o riscador acrescentava coloridas aquarelas que
mostravam roupas ou corpo despido, penteados, armas e alfaias;
intitulavam-se memórias e itinerários filosóficos estes
inventários em que ainda se anotavam veículos de transporte
terrestre e de navegação, fábricas, tinturas, combustíveis,
materiais explosivos, plantas medicinais e diversas outras
boticas. Não esqueçamos os mapas, a navegabilidade dos rios, a
fundura dos ancoradouros, a temperatura dos ares nem a altitude
dos plainos e dos picos. Gente superiormente civilizada, que ia
abrindo estradas à medida das passadas, segundo o ancestral
modelo dos romanos, e colecionando folhas, frutos, rochas e
animais, para prova de que o território se encontrava sob o
domínio do conhecimento científico. Recordemos exploradores como
Serpa Pinto que, para a cabal travessia dos desertos, rios,
rápidos, cataratas, matos e florestas do continente negro,
importaram de Inglaterra os finíssimos serviços de chá.
Olhares um pouco às
avessas foram os dos dois persas em tournée europeia com
extasiada permanência em Paris, tecendo comparações ingenuamente
mordazes – isto através do olhar do filósofo, claro, o
Montesquieu das Lettres persanes que permitiu o infeliz
desenlace de uma Roxane, entre mais quatro esposas legítimas
abandonadas, ela que não só era a favorita do espécime exótico
em devaneio parisiense como dos vários eunucos encarregados de
guardar o harém na Pérsia.
Idênticos choques
culturais e civilizacionais apresentam-se igualmente quando
enfrentamos os caminhos de um livro, muito mais desafiadores
então quando se trata de uma obra já florestal em número de
títulos e em diversidade de géneros, na maior parte mais
complexos do que a norma, por se tratar de híbridos: contos,
romances, crónicas, teatro, poesia, e textos de encanto,
lindamente ilustrados, para uma infância cujos limites etários
não é oportuno discutir aqui, bastando anotar que pode ser a
nossa, atual, neste redundante agora… Obra de Mia Couto,
escusado referir.
Na nossa assembleia de
ex-bons-selvagens na totalidade com a minha única exceção (a
menos que remontemos a tempos célticos, godos, ou mesmo àqueles
em que frequentava a escola de ferir o xisto e o granito para
nele deixar os pictogramas patentes hoje na Canada do Inferno e
noutros recintos paleográficos de Foz Côa, datados alguns de há
vinte e cinco e trinta mil anos), nesta assembleia de
ex-bons-selvagens, dizia – Mia Couto e exegetas brasileiros, que
espreitais à porta da sua morança africana – qual seria agora o
olhar do filósofo, representante da ex-potência civilizadora? À
parte a língua, que é a mesma, em distintas tonalidades, o que
parece entre nós traço de união é o dos afetivos «-ex»… O dos
afetos, melhor dizendo. Estamos todos presos a uma terra-mãe que
pode ser a do outro, nô djunta mon, como se diria em
Bissau, para uma festinha de familiaridade.
Pesa-me na mochila mais
a cultura anglo-americana, veiculada pelos meios de comunicação
de massa, do que aquela que exerci sobre vós outrora – tão
ligeira que nem a língua deixei em África, e menos ainda na
Ásia, segundo parece. Se ficou no Brasil é porque, antes de a lá
deixar, já lá estava, à semelhança de um qualquer fenómeno de
infestação devido à introdução quiçá ilegítima de espécies
exóticas. Exotismo e endotismo, eis dois temas que valia a pena
rever na literatura, não porém à luz das letras, sim à de
conceitos biológicos que nos falam, por exemplo, das viagens das
plantas e dos animais. Vejamos: errará muito o persa em Maputo
se, face às mais comuns árvores de fruto moçambicanas, descobrir
que algumas são persas, e asiáticas e brasileiras na
generalidade as mais substanciais? E agora? Que diz o indígena?
O filósofo é capaz de conceder em que a coisa já passou à
categoria de ex-ótica, pois, o que diz respeito ao Homem,
estamos cansados de o saber, precisa de ser encarado como
cultural, de selvagem ou natural nada tem.
Voltemos à língua, a
perguntar se é exótica ou se já terá sido naturalizada. A minha
superior civilização terá imposto em Moçambique a língua
portuguesa? Rezava o Regulamento do Colégio e Liceu Honório
Barreto, em Bissau, e eu o atesto como ex-aluna, que era
proibido falar crioulo nas aulas. Tudo bem, meus senhores: nem
crioulo nem papel, nem balanta, nem fula, nem mandinga, só o
portuguesinho da praxe. E então? Quantos dos meus colegas
ficaram, com a proibição das suas línguas maternas, meus irmãos
na partilha da minha? Alguns dez por cento, não é verdade? Mia
Couto, em Moçambique, faz parte dos mesmos dez por cento,
devendo por isso considerar-se exótico, uma figura minoritária,
excecional, no mapa das línguas mais faladas no seu país.
Não impus a minha
língua, apesar da legislação em contrário. África, no caso a
Guiné(-Bissau), é que me seduziu a mim com o seu crioulo leve e
kriol fundo, mais os papiares de indecifrável origem
linguística, similares aos que se patenteiam nas obras do autor
moçambicano. O exercício de decifrar é lento e gostoso, mas
pouca diferença faz o código – se língua das aves, como tanto
cimentou Richard Khaitzine em relação aos surrealistas, se o
galaico-português da cantiga de Pai Soares de Taveirós, se os
tantos papiares das diversas populações do globo, ou se o
resultado das suas misturas – e a fusão é uma das grandes artes
de Mia Couto, conhecedor da zootecnia, e por isso sábio de que
só o híbrido é absolutamente novo, mesmo no caso vertente, em
que, do ADN, só participam os carateres linguísticos que o
simbolizam.
Sinto-me o mais possível
resultado dessa mistura. Já não sinto o peso dela, quase ignoro
a sua presença genética, de tão naturalizada a herança romana e
árabe, abismada no âmago da nossa conversa. Porque também vós a
partilhais, e em cima dela a herança castelhana. Eis algo cuja
abominação causa estranheza, portanto custa a assimilá-lo, mas
houve um tempo em que todos – de Bissau a Cabinda, de Moçambique
a Timor, de Damão ao Rio de Janeiro – houve esse tempo longo de
sessenta anos em que todos fomos espanhóis.
E, se formos a ver, em
matéria de selvagens, com toda a carga surrealista que
pessoalmente transporto no currículo, sou bem capaz de o ser
mais do que todos vós juntos, aliás sois apenas ex-, ao passo
que eu estou ainda no ativo. E com isto, finalmente, cá chegámos
à pousada do surrealismo.
Um filósofo senegalês,
Massaer Diallo, na Paris dos anos 80, empreendeu a mesma tarefa
dos protagonistas das Lettres persanes: fitou, olhos nos
olhos, o ex-civilizador, aquele que quis exterminar os mitos, os
ritos, enfim, tudo o que nos selvagens era sinal de inferior, ou
tudo o que nos indígenas era sinal de selvajaria, como a crença,
a superstição, os mitos, os ritos e as magias, apelando portanto
para a necessidade de os salvar, mediante conversão – ao
catolicismo, naturalmente. Aproveito para reforçar a hipótese de
colonização leve com a pergunta: sendo a primeira ferramenta
civilizadora o missionarismo católico (a segunda era a
científica, levada a cabo pelos exploradores e naturalistas, e a
terceira era a militar), daí decorreu a imposição do catolicismo
em África a ponto de ser hoje religião dominante? Predominante
talvez nos dez por cento da população que falam português.
Convenhamos, entretanto, que algo ainda hoje nos une e religa,
passados séculos e décadas sobre o divórcio, mas esse elo
cultural nasce no coração, é um sentimento de pertença à terra e
à família que fala, mesmo mal, a língua portuguesa.
No Senegal, como na
Guiné-Bissau, o que domina é o Islão. Em Un regard noir,
Diallo, o filósofo senegalês, pergunta aos surrealistas, e
exatamente aos surrealistas, não a quaisquer outras sumidades
étnicas nem culturais, por que motivo tinham ido a África buscar
a magia, se em Paris, para quarenta mil médicos, havia trinta
mil marabus, videntes e afins, nesses já sobreditos anos de
1980. E não era quem mais facilmente supomos o paciente, sim
empresários, intelectuais, políticos, milionários. Sem contar
com autores como Mia Couto, que acodem à tradição como
surrealistas, para beberem na fonte original e para que não
desapareça debaixo das botifarras anglo-americanas; tradição é
igual a natividade, identidade, infância, endotismo, se bem que
também Herberto Helder, por exemplo, partilhe o marabutismo
angolano, de dentro, vivido in loco, ficando eu agora na
dúvida sobre se deva interpretar e o quê como tradição ou
aventura, sabendo que os dois termos arrancaram a par da
inspiração da vanguarda.
Consta que De Gaulle se
fazia acompanhar nas viagens por Madame Soleil, a sua astróloga,
e que Miterrand lhe seguiu as pisadas. Em suma, o pensamento
selvagem não é específico dos bons selvagens, sim uma estrutura
pensante apta para lidar com os aléns, transversal às
comunidades, classes e nações, como nos explicou Lévi-Strauss.
Não devemos assim ficar inquietos por os ex-civilizadores não
terem conseguido impor a mais avassaladora ferramenta
civilizacional, a língua, nem exterminado o mais avassalador dos
fantasmas contra-civilizacionais, o marabutismo. Marabus
senegaleses, idos do Senegal, e marabus falsificados, de
extração francesa, cigana, brasileira – que sei eu? – era o que
mais havia em Paris nos famosos anos 80, e não vamos
responsabilizar por isso nem o maio de 68 nem os ranchos de
hippies, que se limitaram a acentuar a questão com angélicas
coroas de flores. Hoje como antes e depois, não há moedas de uma
só face, quem quer o mythos terá de sofrer com paciência
o assédio do logos. Ou vice-versa.
Não desejava avançar sem
duas palavras de comentário a um aspeto selvagem e
correligadamente surrealista da obra de Mia Couto, quer ele
tenha lido ou não André Breton, quer tenha visto ou não pinturas
de Picasso, mais conhecido como cubista, e de Salvador Dali. É o
caso algo macabro, de discutível humor negro, do despedaçamento
do manequim. Vamos lá: o manequim, boneco das lojas de roupa, é
um dos mais típicos objetos surrealistas, por inúmeros
apresentado em exposições ou livro, nu ou vestido, despido com
colar de pérolas na orelha, vestido no pé com longa boquilha e
cinto de ligas, e também, em atuação algo mais ao género do
policial negro, que é a deslocação de membros do seu lugar
próprio para o de órgão vizinho ou despedaçamento do corpo,
aliás do manequim. E então deparamos com objetos surrealistas
puros, prontos para sequente collage, se necessário,
constituídos por partes do corpo que ganham autonomia em relação
à totalidade, ou, para usar termo em voga, adquirem potencial
holístico. Dois exemplos pelo menos se patenteiam neste livro,
coligidos nos romances de Mia Couto: o dos pés que caminham
sozinhos, deixando ápodo o sujeito, algures; e o dos órgãos
genitais masculinos, pendurados nos ramos das árvores. Este
objeto surrealista aproxima-nos de forma espetacular tanto da
tradição como da vanguarda. Tem origem no
salmo 136:
Junto aos rios de
Babilónia nos sentámos a chorar,
recordando-nos de
Sião.
Nos salgueiros das
suas margens
pendurámos as nossas
harpas.
O salmo 136 foi glosado
por poetas vários, desde Camões, em Super flumina, a
Mallarmé, em Le démon de l’analogie, desde Mallarmé ao
Herberto Helder das Servidões. Façamos da memória um rio
para navegarmos até à fonte camoniana, locus amoenus para
vos acenar com um «Gostei de estar convosco, adeus e até breve»:
Como homem que, por
exemplo
dos transes em que se
achou,
despois que a guerra
deixou,
pelas paredes do
templo
suas armas pendurou:
Assi, despois que
assentei
que tudo o tempo
gastava,
da tristeza que tomei
nos salgueiros
pendurei
os órgãos com que
cantava.
Portugal,
26 de abril de 2014.
|