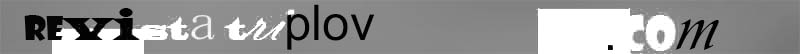|
|
 |
Joaquim Simões (Portugal).
Cronista, poeta, dramaturgo. |
 |
|
|
|
JOAQUIM SIMÕES
Quarta-feira
Uma
história cartesiana

|
|
NOTA PRÉVIA
Propuseram-me, há
dois anos, participar numa antologia de contos
de diversos autores, no âmbito da chamada
História Alternativa. Como pano de fundo, o
episódio da Monarquia do Norte de 1919, também
conhecido como o Reino da Traulitânia.
Para quem não
saiba, o Reino da Traulitânia chegou a abranger
todo o Norte do País, com capital no Porto,
conquistado pela revolta monárquica chefiada por
Paiva Couceiro, no início desse ano. Os navios
da República, porém, bloquearam a Foz do Douro,
o exército republicano avançou por
Trás-os-Montes, derrotou as forças do rei na
batalha de Chaves e reconquistou a cidade ao fim
de três semanas. D. Manuel II, esse nunca
aprovou a acção armada – era um democrata
convicto e recusou sempre regressar por via de
golpes, quer militares quer palacianos. Porém…
E se tivesse
havido, pouco tempo antes, um congresso
científico no Porto, em que participasse um
cientista russo, fugido aos bolcheviques e
apoiante do Czar, autor de uma descoberta
revolucionária que permitiria utilizar o álcool
presente no vinho como fonte de energia em larga
escala? E se os partidários da realeza o
convencessem a ceder os seus conhecimentos em
prol do restabelecimento da monarquia em
Portugal? E se D. Manuel voltasse ao país e o
Porto resistisse, assim, por três anos, até
1922?
O que poderia ter
sucedido?
De modo a
garantir a unidade que deveria reger o conjunto
dos contos, aludi, no meu, a dois elementos
presentes naquele que João Barreiros terminara
dias antes:
– o
rei estaria casado não com a princesa
Augusta Vitória mas com a diva do cinema
americano da época, Mary Pickford;
– os corvos,
através da introdução de uma mutação genética,
teriam agora capacidades de memorização e
reprodução das conversas entre os cidadãos,
tornando-se deste modo num bando imenso de
informadores da polícia monárquica,.
A antologia
acabou por não obter o financiamento necessário
à sua edição, pelo que aqui deixo o que
preferiria designar por um “romance-bonsai”. Ao
longo do que escrevi, respeitei integralmente os
elementos dos episódios históricos referidos bem
como os dados biográficos das personagens neles
envolvidas, datação semanal incluída.
Joaquim Simões
|
 |
|
Talvez 1
Um… dois… três…
quatro…
Não.
É:
um… dois… três… quatro… cinco… seis… sete… oito…
no…
Não… enganei-me… não é… E aqui…? Ou…
Recomeça: um… dois… três… não, está escuro
demais… não é possível…
Deve
ser ainda meio-dia… nevoeiro, é nevoeiro, é do
nevoeiro que entra lá por cima… Assim não se
consegue contar as manchas nas traves… Tenho que
as contar, senão endoideço… ainda endoideço…
Amanhã.
Ah, não!... não…! Amanhã… amanhã… amanhã…
amanhã… amanhã!
|
 |
|
Talvez 2
– …
Pois… isto não se parecia nada com o que vê …
Quando eu era catraio, nem praticamente vinha
para estes lados. Só havia campo, tudo terrenos
e quintas até quase à praia, aí uns bons cinco
ou seis quilómetros que o pessoal da aldeia
cultivava. Chegava para comer, para vender, e
ainda se arranjava alguma coisa para as vacas e
para os porcos… A carne também era diferente…
era melhor, nem tinha comparação com a que a
gente come … Hoje há mais fartura, é verdade…
Sim, porque houve uma altura em que fome é que
não faltava por aqui… Segundo me dizia o meu
avô, que Deus guarda, que viveu nesses tempos…
Volta não volta, dava-lhe para ali. Como
se falar com alguém que nada soubesse daqueles
sítios pudesse ajudá-lo a encontrar uma razão de
ser para este mundo. A dar algum sentido à vida
dele e à de todos: os que conhecia, os que
conhecera, os que nunca conhecera, os que nunca
viria a conhecer – à de toda a gente, à desta
coisa toda que, no fim de contas, cada vez mais
era, para ele, um mistério. Algo que lhe
evitasse a angústia imprevista, parda, que, a
partir aí do meio dos quarenta, o avassalava às
vezes como um nevoeiro a embrulhá-lo das tripas
ao cérebro, como uma cova imensa a abrir-se-lhe
de súbito por dentro… uma cova que lá tivesse
estado à espera desde o nascer.
Agora, esse alguém era o forasteiro que entrara
e perguntara se ainda seria possível
servirem-lhe uma refeição àquela hora. Sentado
no banco corrido duas mesas ao lado da sua, já
sem mais ninguém na tasca além deles e do
taberneiro, pedira também que lhe indicassem uma
pensão onde pudesse pernoitar antes de rumar a
Valença. Isso havia sido o pretexto para começar
a desfiar a sua reserva de recordações de
pequenas alegrias e prazeres. O homem escutava-o
– parecia-lhe – com interesse suficiente para se
permitir fazê-lo, enquanto esvaziava a tijela da
sopa colherada atrás de colherada, e depois,
garfada após garfada, ia engolindo a carne
gordurenta acompanhada de batatas escurecidas
pelo óleo demasiado quente, de três ou quatro
folhinhas de alface e de umas quantas rodelas de
tomate e cebola crua, salpicadas de orégãos.
Aproveitou o momento em que o outro pediu um
copo de vinho para ir buscar mais um para si ao
barril do “especial” colocado lá ao fundo, junto
à porta tão escurecida pelo uso como o
mobiliário que dava para o pequeno pátio
empedrado por detrás da taberna – coisa a que só
estava autorizada a freguesia habitual.
Primeiro, porém, pegou no do cliente, que o
tasqueiro se preparava para aviar, enchendo-o
antes de encher o seu e levando-lho, no gesto de
cortesia devido a quem se dispunha a ouvi-lo de
tão boa-vontade. Pelo meio, espreitou para
dentro do balcão tentando ver se sobrara
qualquer coisa dos petiscos do dia que
acompanhasse o último copo e, sem precisar de
mais, o ti Adelino passou-lhe um pratinho com o
que restava, na frigideira, da refeição
preparada para o cliente de ocasião, fazendo-lhe
entender, com um gesto de cabeça, que era oferta
da casa.
Tornou então a sentar-se, apoiando as costas
contra os azulejos encardidos que revestiam até
meio as paredes em azul acinzentado, de tinta a
descascar, e, entre mastigadelas e golinhos de
“especial”, continuou a desenrolar o filme da
memória construída sobre os lugares que haviam
dado – e, segundo o que tudo indicava, embora
ninguém saiba o dia de amanhã, continuariam a
dar – matéria e forma à sua vida. O Vicente, o
corvo que animava o tasqueiro e os fregueses da
Cova Funda, provocando a risota ao debitar os
palavrões que lhe ensinavam e o assombro com as
suas habilidades no poleiro, crocitava em fundo
ou entoava, num grito abrupto, os sons
aprendidos nos últimos dias. Levantou-se de
propósito para lhe dar uma côdea mais um pedaço
da carne, um pouco adocicada, e a ave quase lhas
arrancou dos dedos. Riu-se.
– O
sacana…! Se eu não fugisse tão depressa com a
mão… Até os corvos, sabe!... já não é a mesma
coisa… Contam os mais velhos que, antigamente,
bicheza desta era uma praga. Havia bandos e
bandos e bandos que estragavam tudo em Gaia e
por aí acima. Mesmo no tempo do meu pai ainda
eram bastantes. Acho que tiveram que pôr
armadilhas com veneno para conseguirem acabar
eles, quando não era a tiro. Hoje, vê-se um ou
outro. Lá para cima, no Douro já perto de
Espanha é que ainda há bastantes… segundo dizem,
eu nunca lá fui…
O homem demorou-se um pouco para além do
fim da refeição, escutando-o pelo menos o
bastante para também lhe fazer perguntas acerca
deste ou daquele pormenor ou expressando o seu
apoio ao que ele se vira obrigado a fazer neste
ou naquele caso. Já o Adelino e o filho, o Quim,
arrumavam o estaminé para o dia seguinte,
bocejando de quando em vez de maneira a dar a
entender discretamente que estava na hora de
fechar, quando a corrente das histórias afrouxou
o suficiente para que o outro se levantasse e
fizesse menção de sair, depois de ter pago e
agradecido a gentileza de uma refeição tardia.
Acompanhou-o e, debaixo do alpendre coberto por
uma latada de onde, no Outono, tinham pendido
cachos de uvas brancas, agarrou-o por um braço,
puxou-o para a esquina da tasca que confinava
com uma espécie de beco e apontou para o que
ainda restava de pé de um celeiro no meio de um
terreno, por enquanto desocupado.
– Aquilo… está a ver… ali, à frente…
aqueles restos de paredes… e os paus grandes,
amontoados… era a única coisa que havia aqui
antigamente, aquilo era a única coisa que havia
uns dois quilómetros em redor. Acho que servia
para guardar forragem para o gado, mas, mesmo já
nessa época, não era utilizado. Agora serve para
os pedintes irem lá dormir ou para se esconderem
os que andam para aí, na malandragem… porque de
vez em quando, à noite, a gente vê umas luzinhas
a tremelicar… enfim…! Olhe, bem dito bem feito,
uma… o que lhe passou agora à frente deve ter
sido um gato… gatos não faltam por ali, uns
vizinhos dão-lhes comida, vão levar restos aos
bichinhos… que por aqui há muita rataria, dão
jeito, os gatos… Algumas daquelas pedras ainda
foram aproveitadas para fazerem estas, da
taberna… Minto, havia um armazém agrícola,
também a cair aos bocados, mais tarde
deitaram-no abaixo. Ficava onde construíram o
prédio onde vivo.
Despediu-se, por fim, com um aperto de
mão vigoroso, desejando-lhe boa viagem enquanto
o outro agradecia a companhia que lhe fizera. Só
mais tarde se lembrou de que nem sequer se
tinham apresentado. Puxou para cima a gola do
casaco, protegendo-se da chuva babacenta de
Janeiro que, entretanto, começara a cair, e
rumou a casa, antevendo uma mulher pouco
satisfeita pela demora e a comida requentada. Ao
passar pela viela entre o prédio onde morava e o
do lado, um alarme soou-lhe bruscamente na
cabeça, fazendo-o virá-la a tempo de se
aperceber, pelo canto do olho, de um movimento
na penumbra. Parou por instantes, não fosse
algum gandulo a preparar-se para o assaltar, mas
tudo o que conseguiu vislumbrar foi a sombra de
uma ratazana – ou seria a de um gato? – a
mover-se lentamente no centro de um foco de luz
esvaída e vacilante, provinda da janela da
última cave, ao fundo, a sua. Ainda fez menção
de averiguar do que se tratava, não fosse
entrar-lhe um rato em casa, mas acabou por achar
que não valia a pena, que a janela estaria
fechada e, voltando a lembrar-se do jantar e da
mulher à espera (mais da mulher do que do
jantar, valha a verdade, a sopa já lhe bastaria
depois do que petiscara), continuou a andar,
acelerando o passo. Subiu o lanço de escadas
exterior, deu as boas-noites ao vizinho com quem
se cruzou à entrada, em seguida os três degraus
do átrio, desceu os sete que levavam às caves,
virou à direita e meteu a chave à porta.
|
 |
|
Talvez 3
Fora ali, em 1686, depois dos dominicanos
erguerem em Gaia um segundo Convento de Corpus
Christi para substituir o primeiro, arruinado
pelas cheias do Douro ao longo dos séculos, que
o povo de Gulpilhares, emocionado com o fenómeno
da luz misteriosa que passara a surgir naquele
sítio todas as noites, decidira erigir a capela
cujas paredes levantara já no sítio do arraial.
Era ali, onde terminava a norte a praia de
Arcozelo, naquele enorme penedo escuro, altar de
anteriores ritos pagãos constantemente lavado
pelas ondas, que o templo de forma hexagonal
testemunhava, em branco e negro, a existência de
um desígnio inalcançável pela compreensão
humana, ao resistir incólume, século após
século, às vagas em fúria que desabavam sobre a
cruz que a encimava. Fora também ali que se dera
o seu primeiro encontro após um afastamento com
a duração de mais de uma década apocalíptica,
como se o que os unira desde o primeiro olhar,
quase vinte anos antes, fosse também a
manifestação desse desígnio. E era ali que hoje,
passados outros dois, durante os quais a
esperança inicial se mudara novamente em
desespero e presságio sombrio, haviam combinado
estar juntos, porventura pela última vez. Pelo
menos neste mundo.
O Inverno que, naquele crepúsculo de
Janeiro, se ia erguendo aos poucos em vento e
água, como se pretendesse afirmar de novo essa
verdade superior e inacessível, envolvia-a numa
chuva miudinha, tecida mais de gotas geladas
roubadas ao mar pelo vento ainda brando do que
por aquelas, esparsas, que as nuvens cinzentas e
baixas começavam a deixar cair. Sentada no muro
do terraço superior oposto ao da entrada, a que
se tinha acesso por uma escadaria, à esquerda,
olhando o infinito esboçado no voo das raras
gaivotas, o sal das lágrimas silenciosas
juntava-se ao dos salpicos que lhe fustigavam o
rosto, queimando-lhe a pele. O frio, que a capa
já meio ensopada lhe ia espalhando por todo o
corpo, unia-se ao que a inundava por dentro,
como o garrote que um carrasco perverso
apertasse devagar enquanto lhe murmurava ao
ouvido a esperança da chegada iminente do
perdão. Mas a sua recusa a entrar na capela
tornara-se maior do que nunca e preferiria
morrer a fazê-lo. No meio do silêncio estrondoso
do mar, surdamente embalada pelos súbitos e
bruscos uivos da ventania, no seu espírito
ecoava, estranhamente, com a força da mais
mística das orações, o canto entoado nas
romarias:
Bendito o Senhor
da Pedra!
Bendito sempre
sejais!
Não tenho nada
de meu.
Oh Senhor, tanto
me dais!
Ela nada tinha de seu. Mas o que era o
que lhe fora dado? O cálice de amargura
salvadora ou o instrumento da condenação eterna?
E como entender o sofrimento que isso lhe
provocava? Como o tempero necessário ou como o
veneno aniquilador? Apenas a Sabedoria Criadora
do universo poderia determinar sobre aquilo que,
por ser a razão humana demasiado débil para o
compreender, ela nunca estivera capaz de decidir
senão por impulso cego. E a que ela acedera. No
meio do terror e da esperança, no meio de uma
confusão feita de trevas e de luz que a deixava
sem qualquer resposta para onde estava, quem
era, o que viria a seguir para ela, para todos.
Coubera-lhe decidir, sim – mas o que decidira?
Irrompeu-lhe no espírito, mais forte do que
qualquer desgraça profetizada em Patmos, um
grito: “Não tens vergonha da vida que me
deste?!”.
A sua alma voltou depois, impotente, de
novo humilde, a converter-se em silêncio e
escuta. Dobrou-se ainda um pouco mais sobre si
mesma e esperou, o negro do vulto a invadir a
escuridão crescente.
|
 |
|
Talvez 4
A nossa espécie tem um presépio que, tal
como o religioso serve para relembrar e celebrar
o segundo início do Tempo, guardámos para nunca
esquecermos que o Tempo e o Homem são da mesma
idade. É a imagem para sempre gravada de uma
fogueira rodeada por humanos a darem forma ao
Tempo, alargando-o até infinito com as suas
histórias; moldando-o, ao atribuir-lhes um
princípio e um fim; esculpindo-o à sua própria
imagem para só depois se interrogarem sobre o
que ele é. O Tempo, esse algo vindo sabe-se lá
de onde que lhes revelou as outras espécies como
bichos, com o qual fizeram os tempos dos heróis
e dos santos, dos canalhas e dos paladinos, da
grandeza e da baixeza, da alegria e do desgosto,
da miséria e do excesso, com tudo isso
transformando a Vida no espelho onde veem
erguer-se a criança e, logo depois, o cadáver a
desfazer-se, para no final nada restar, nem
sequer o Tempo.
Ali,
de pé, as pernas afastadas, os pés fincados no
chão, os punhos cerrados pela ira e pela
impotência, era o seu presépio, em Setúbal, o
que lhe surgia na mente, numa sensação de Origem
e Eternidade que apenas a infância é capaz de
tornar irrevogável. À lareira, ele e os tios,
seus pais adoptivos por morte da mãe, única irmã
da tia, ao dá-lo à luz, e também do pai, que
emigrara para o Brasil quando a mulher ainda
estava grávida, acabando por falecer meses
depois devido a umas febres – é sempre assim,
pelos olhos dos outros, pelas palavras dos
outros, que começa a história que cada um fará
de si. O tio conta-lhe a sua história de
Portugal, a daqueles que considera grandes
exemplos de visão, coragem e sacrifício, por
cuja escolha ele mesmo, Artur Teixeira, rico
comerciante de vinhos que subiu a pulso na vida,
se convertera numa História de engrandecimento e
progresso do país, no meio de outras Histórias,
passadas e vindouras.
Portugal é a História do tio Artur, a História
do querer e da generosidade com que o perfilhou,
dando-lhe a educação que nunca pudera ter, não
regateando o dinheiro necessário à satisfação da
sede de saber do moço. E o Tempo, esse é a Vida,
e essa é Portugal, sob o olhar terno e bondoso
da tia Anastácia que abana a cabeça de vez em
quando, sorrindo, embevecida com o ar
maravilhado do sobrinho – o filho que lhes
faltou no casamento, a quem, por vontade da
moribunda, baptizaram com o nome de Sebastião –
escutando o que ecoa no empolgamento do marido.
Apesar da sua proveniência humilde, o tio não se
entusiasma com a República, muito menos com esta
república jacobina, maçónica, carbonária e
sabe-se lá mais o quê. Para ele, homem do povo –
povo a sério, porque há povo e há povo
ordinário, não se cansava de relembrar –, a
monarquia é o melhor para qualquer país. Não há
mal nenhum na existência de uma nobreza, nobreza
quer dizer mérito e, para bem de todos, são os
de maior mérito quem deve governar ou ajudar na
governação. Desde sempre que quem governa
precisou de se rodear de um Conselho de Homens
Bons. Lá por hoje se venderem os títulos, e os
fidalgos serem, na sua maioria, gentalha
arrogante e pouco séria, o que deve acabar é
esse abastardamento, não fazê-la desaparecer
como se não existissem diferenças entre um
vigarista e um homem honrado.
Não, estes republicanos não lhe merecem
consideração alguma – uma cambada de invejosos e
de gente enfatuada e sem-vergonha, mais
preocupada com os seus interesses e atenta à sua
vaidade do que à nação. Basta lembrar as
mentiras, o babujar de calúnias e veneno que
despejaram, sem o menor escrúpulo, para
atingirem os seus fins, sobre um pobre jovem de
dezoito anos obrigado a subir ao trono numa
situação trágica, exalta-se ele. Um garoto tão
preocupado, porém, em resolver a crise do reino,
em engrandecê-lo de novo, que encomendara um
estudo sobre o estado do reino, pagando-o do seu
bolso, a cientistas internacionais. Alguém tão
simples e dado a ponto de abolir o protocolo
anual do Beija-Mão Real. Sabe-se até que ele
gosta de Antero de Quental, que ainda há pouco
tempo, no exílio, entrou em conversações com o
Partido Socialista. E recorda os exemplos de
gente como o grande Eça de Queiroz que, no final
da vida, regressou às hostes monárquicas; ou
Oliveira Martins, que chegou a ser ministro da
Fazenda de D. Carlos; ou o próprio Ramalho
Ortigão, inflexível na sua honestidade, que
repudiou o odioso carnaval republicano dois anos
após o golpe. Só o ingénuo Teófilo Braga
continuou fiel àquela desmiolação, mesmo depois
de certamente se ter apercebido do desastre que
ajudara a impor.
A
nobreza é o esteio da história do tio Artur, uma
nobreza de acordo com o seu carácter e com o
daquele que o ouve. O Portugal do tio é o
Portugal de que ele, Sebastião, faz parte, quer
fazer parte, o Portugal que é ele próprio, a
nação inscrita no Tempo e que com o Tempo se
confunde. E a História dos descendentes
espirituais de Viriato e Afonso Henriques
joga-se hoje no combate entre o que a quer
destruir – a sanha e a sede de poder da canalha
que se alberga e esconde à sombra daquela
horrível bandeira verde-rubra, do povo ordinário
de que fala o tio – e os que a defenderão, com a
própria vida se preciso for – que ninguém tem o
direito de silenciar pela força a voz dos
antepassados nem de ignorar o esforço com que
ergueram e mantiveram a Pátria, muito menos, com
rematado cinismo, de se assenhorear desta em
nome da liberdade.
|
 |
|
Talvez 5
–
Que julgaremos, então, de tudo isto?
– Não temos escolha, só a condenação à
morte nos convém.
|
 |
|
Talvez 6
Despertou da letargia, sacudindo num
repelão o desespero que lhe tolhia a mente como
uma camisa-de-força. Fizera-se noite, o vento
soprava de hora a hora mais forte, a chuva,
embora miudinha e pouco intensa, caía agora sem
cessar, obrigando-a a cozer-se com a parede para
se abrigar debaixo do beiral estreito. O fogo
que a consumia por dentro era, porém, bem mais
frio do que o frio sofrido pelo corpo. A memória
do que lhe acontecera recuou numa vertigem, até
já não ser ela, até ao fundo do mais fundo de
todos, todos, todos a passarem como num teatro
de sombras que narrasse algo sem fim nem
sentido. Algo que jorrava sem cessar, sem a qual
as sombras nem sequer existissem. Talvez.
Sombras, mas sombras como se fossem de carne e
osso, sombras doídas, sombras com rosto e
história que não chegava a sê-lo, apenas um caos
em que se animavam num arremedo de dança.
Sombras que se agitavam ao som de palavras como
prazer e dor, virtude e excesso, volúpia,
crueldade, santidade, culpa, piedade, redenção,
alegria, luxúria… Palavras que, no entanto, se
ouvia como se poderia ouvir o vazio. E sombras
que surgiam inesperadamente para inesperadamente
se esboroarem e desaparecerem. E como se também
ela fosse uma dessas sombras que, por momentos,
houvesse saído de cena e contemplasse, transida,
a eterna noite do universo que sóis enganadores
encobriam.
E coisas que eram as sombras dessas
sombras ou as sombras no meio das quais as
sombras se moviam. Como compreender, porém, que
o espírito consiga distinguir, com imaculada
nitidez, o que os sentidos nunca conheceram?!
Ali estava ela, contudo, na margem do rio, a
mole do primeiro mosteiro de Corpus Christi. E,
estacando subitamente à sua frente, a fidalga de
Gaia que o mandara construir e o entregara à
Ordem de S. Domingos, Maria Mendes Petite, viúva
do trovador Estêvão Coelho, ambos pais – e
animava-se em sacões histéricos o que se
assemelhava a um baile infernal! – de Pêro
Coelho, matador da Castro. A cabeça inclinada, a
face sulcada de interrogações esmagadoras,
desapareceu em seguida, o corpo a bambolear-se
sem nexo, como que levada por um mecanismo de
feira cilíndrico na frente do qual surgia agora
Daniel O’Daly, o fundador do primeiro convento
de mulheres dominicanas do mundo, em Lisboa,
três séculos atrás. Assomou brevemente,
saltitante, com o ar apressado de a quem ainda
muito faltasse para a terminar a missão a que se
obrigara de salvar os católicos irlandeses
perseguidos pelos protestantes, a expressão
contraída num rictus de angústia, gingando, o
torso vergado ao peso de um fardo assumido mas
que não escolhera – a sombra, maldosa, a
transformá-lo numa corcunda.
Mas Teresa!, Teresa!, amiga sobre todas
as outras, irmã, mãe se não pela carne pelo
menos pelo espírito que lhe sustivera junto ao
precipício, que abrira a sua alma à certeza de
um destino maior e mais elevado, que lhe
oferecera a sua companhia por toda a Eternidade,
Teresa, que deixara este mundo seis anos antes,
porque entrava também ela naquele carrocel
infernal, também ela numa agitação sinistra?
Teresa de Saldanha, condessa de Rio Maior que,
tal como o dominicano Tomás de Aquino, contra o
destinado pelo berço fundara a Ordem das Irmãs
de Santa Catarina de Sena, que utilizara toda a
sua fortuna para fundar asilos e colégios onde o
cada vez maior número de desgraçados e pobres
feitos pelas guerras civis e pelo regime
corrupto pudessem ser auxiliados e educados.
Teresa, que ao fim de sessenta anos vira os bens
da Ordem confiscados pela República, que, como
algumas das suas companheiras, refugiadas em
casa de familiares e amigos, se recusara a
deixar o país, morrendo na miséria numa pequena
casa alugada. Teresa, de quem fora aluna, que a
ouvira, a compreendera e a confortara, anos mais
tarde, quando a sua vida ruíra até à perda de
qualquer sentido, que lhe revelara o rumo dado
no Começo. Teresa!, Teresa!, porque emergia
também ela, saracoteando-se como uma marioneta
manipulada por um ser frenético, o rosto a
contorcer-se num esgar zombeteiro, quase
diabólico?
O
medo irrompeu, poderoso, trocista, a inundar a
fé em que se julgara firme, a revolver-lhe as
vísceras, a enrodilhá-la numa funda pequenez. A
ela, que, com a Monarquia do Norte, viera para
Gaia dar nova vida ao segundo Convento de Corpus
Christi, vazio havia cerca de três décadas pela
morte da última Irmã, Marcelina Viana. A ela, a
Irmã Mariana de Jesus, a Madre Superiora, a ama
maldita do rei, a quem ele impusera uma escolha
que a ninguém se deveria exigir.
|
 |
|
Talvez 7
Suaken (1)…
O
calor parece fazer vibrar o chão, e o ar sobe,
em ondas sufocantes, até para lá de onde a vista
alcança. O sol é o servo maior deste inferno de
céu azul em que nenhuma nuvem se atreve a
penetrar. O corpo a esvair-se em suor, a boca
seca, o corpo atabafado na própria pele que
apetece arrancar, como um peixe a procurar
ver-se livre da rede.
Sebastião!
Suaken…
Ao
ataque! Ao ataque! Direito à morte que virá,
devagar… O corpo sacudido, massacrado pelo ferro
e pelo galope… Inesperado, ululante, o inferno é
agora um vórtice em que rodopia, mas como se não
fosse ainda mais do que a miragem de um outro,
que sente a chamá-lo de algures. Sebastião!
Gritos que não parecem provindos de gargantas
humanas, que levam a morte a reluzir nas
espadas, a zunir nas balas, abafa-se-lhe a voz
no pó do tumulto.
A
dúvida inesperada, espantosa, sobre o que faz
ali, o terror imprevisto, um choque no peito…
O
pelo macio, creme em gradações suaves a chegar
ao branco puro no peito, a desenhar meias nas
patas traseiras e pequenas luvas nas dianteiras,
a envolver a boca e o nariz rosado. Riscas em
castanho-escuro a debruar o corpo, algumas em
cinzento forte, a sobressaírem do cinzento claro
mesclado, olhos de um azul invulgar, suavíssimo,
líquido. Estrábico, fixa-o, ora meigo ora
inquieto. Um animal que inspiraria qualquer
imaginação com fábulas e lendas de encantos e
sortilégios, da luta infindável pela felicidade
e harmonia eternas num mundo desde o começo
ameaçado pela tirania do mal, disposto a
subjugá-lo.
A
libertá-lo do sonho repetido, angustiante.
Aninha-se-lhe entre o estômago e o pescoço.
Corresponde às carícias feitas pelas mãos que
lhe percorrem a nuca, pelo movimento dos dedos a
passarem-lhe suavemente em redor das orelhas,
pelos malares ou ao longo do maxilar inferior.
Estende o pescoço com deleite, fecha os olhos e
aquieta-se, por fim, o queixo apoiado nas patas
dianteiras, ronronando, até adormecer. A chegada
do gato restabelece a serenidade e o equilíbrio
que as circunstâncias se encarniçam em
retirar-lhe. Mas por quanto tempo?
Ninguém, além de quem o sequestrou, se fez ouvir
até agora por perto daquele armazém agrícola a
caminho da ruína na costa nortenha, perto de
Gaia. Nem sequer o ladrar longínquo de um cão,
somente os gritos das gaivotas e, por vezes, o
crocitar de um corvo. Quando saiu do desmaio,
três semanas antes, apenas se conseguiu
aperceber de que era dia devido à claridade
fraca a escoar-se por alguns orifícios a uns
bons cinco ou seis metros de altura, feitos
menos para iluminar o interior do que para
circular o ar e, mais alto ainda, por um pequeno
buraco aberto numa parte apodrecida da telha-vã.
Fora
a manta com que se cobre para dormir no monte de
palha a um canto, de uma pilha de jornais
destinados à higiene e de uma bilha com água,
meio escaqueirada, nada mais lhe deixaram. Nem
sequer, como nas prisões, um balde destinado às
necessidades – percebeu depois que não querem
correr o risco de ele o utilizar como arma
nalguma tentativa de fuga. Vê-se por isso
obrigado a enrolar as fezes nas folhas de papel
e a urinar sempre no mesmo sítio, do lado oposto
àquele em que dorme, cobrindo depois tudo com
palha retirada à cama. Levaram-lhe o relógio, e
é pela intensidade e inclinação dos raios
luminosos ao penetrarem na abertura do telhado
que consegue calcular as horas.
A
porta, grande, pesadíssima, está munida de uma
fechadura de bom tamanho, embora não se encontre
trancada por fora nem sequer com cadeado –
reparou nisso na noite em que ali o levaram,
antes de lhe baterem na nuca à falsa-fé, e
também porque nunca ouviu senão a chave a entrar
e a rodar quando a abrem. Impossível trepar para
alcançar os respiradouros e gritar por um
socorro duvidoso através deles, não existem
apoios possíveis, unicamente umas traves meio
apodrecidas pregadas na parede, colocadas e
distribuídas de tal modo que só um gato consegue
utilizá-las. É, aliás, servindo-se delas, que
este vai e vem desde há dez dias, passando pelo
buraco na telha-vã.
Dez
dias… Mas tudo principiou há bastante mais
tempo. No dia 7 de Setembro, quarta-feira, um
mês antes do seu décimo oitavo aniversário, a 7
de Outubro, iniciou a preparação da missão que
se impôs. Depois, a 7 de Dezembro, outra
quarta-feira, deu começo à aventura, metendo-se
ao mar, rumo ao Porto. Para, arriscando a vida
no oceano encapelado pela invernia e sempre na
iminência de ser interceptado e preso por um
navio da República, chegar a Arcozelo na
quarta-feira seguinte e sofrer a traição
daqueles em quem confiara.
Deixou uma carta a dar conta daquilo a que se
propusera, o que faria para o alcançar, pedindo
que rezassem por ele e pelo seu bom êxito,
prometendo fazer chegar notícias suas antes do
Natal. A noite mais sagrada do ano passou-a,
afinal, ali sozinho, num tormento indescritível
pelo sofrimento imerecido dos que àquela hora
estariam a chorar por ele. A passagem de ano
encontrou-o num desespero muito próximo do que
seria o suicídio, que teria cometido se lhe
houvessem deixado à mão algo com que fazê-lo.
Mas não, nada, nem sequer uma tesoura romba para
cortar o cabelo hirsuto e a barba, onde a
tortura da comichão feita pelos piolhos se
acrescenta à das pulgas que lhe infestam a roupa
imunda.
O
gato desperta, ergue-se, espreguiça-se em arco,
a bocejar, desce-lhe do peito para o chão, volta
a espreguiçar-se, a esticar as patas traseiras,
salta de trave em trave para alcançar o buraco e
desaparece para lá dele, deixando-o de novo
entregue a alguém que já só por vezes sabe quem
é.
(1)
Aldeia perto da qual se deu a batalha de
Alcácer-Quibir.
|
 |
|
Talvez 8
O
cabo Garção senta-se numa pedra à beira da vala
que acompanha aquele lado da estrada, a uns dez
metros do buraco escavado por um obus, perto de
uma árvore que o Inverno despiu, a metralha
esfuracou e a explosão calcinou. Puxa das
mortalhas e da bolsinha do tabaco, enrola
meditativamente um cigarro, mas acaba por o
guardar na caixinha que retirou de outro bolso
da farda. A primeira fumaça é substituída por um
suspiro, enquanto o olhar se lhe perde no
meandro de telhas e vigas de madeira destroçadas
em que se transformou o telhado da última morada
daquele extremo da pequena povoação, atropelada
pela guerra.
Passou uma hora e meia sobre o fim da escaramuça
com uma coluna dos monárquicos surpreendida a
abastecer-se e os aldeões começam a regressar,
ainda a medo, não volte ela a reacender-se. Uma
mulher cobre o rosto com o avental, sufocando o
choro convulsivo que a toma ao ver a sua casa
com as paredes crivadas de balázios, a porta da
entrada esburacada, pendente dos gonzos, os
vidros das janelas partidos. Um homem de
meia-idade, com as calças e a camisa rasgadas
pelas moitas onde se escondeu a distância
segura, entra no quintal e volta a sair pouco
depois, os olhos carregados de mágoa e ódio,
arrastando ostensivamente, em silêncio, um
vitelo morto diante da tropa que por ali
circula. Um velho, encostado à bengala,
cambaleia rua abaixo até a um portão
escancarado, espreita para o que seria uma
pequena horta e encosta a cabeça às costas da
mão pousada numa das colunas em que ele assenta.
Vira-se um pouco, fita olhos nos olhos o militar
e pergunta, em voz apenas audível “Agora, o que
é que eu vou comer?”, num desalento conformado
de quem acha alívio na ideia de que a morte não
deverá tardar. Duas crianças procuram socorrer
um cão moribundo, que gane e ameaça mordê-los
quando lhe tocam na perna esmagada. Uma outra
insulta a soldadesca, atira-lhe as pedras mais
pequenas do muro derrubado, enquanto o pai,
também ele de cabeça perdida, quase lhe bate
para o levar dali, não vá o diabo, sem querer,
disparar alguma arma.
Apenas consegue desviar o olhar para o chão,
puxar o bivaque para trás no gesto que sente
como o de quem já não é capaz de sentir, e assim
ficar, os cotovelos apoiados nas coxas, as mãos
entrelaçadas entre os joelhos. Desgosto,
vergonha, revolta, raiva, porquê, contra quem…
um pandemónio, sem responsáveis nem solução que
ele veja. Aos seus ouvidos chega a balbúrdia
instalada, o ruído de botas a martelarem as
ruas, ordens dispersas dos seus colegas aos
subordinados à mistura com os palavrões do
costume. Muitos devem andar à procura de uma
pinga de aguardente ou de vinho que ajude a
aquecer as tripas e a retemperar o ânimo,
procurando adivinhar onde se esconderam as
garrafas, rebentando as despensas, forçando os
móveis e, após a busca infrutífera, pisando à
saída, com indiferença ou crueldade, o que as
pessoas cultivaram para o seu sustento. Ná!, não
crê que alguma haja escapado ao confisco geral
de tudo o que contém álcool pelas autoridades da
Traulitânia em todo o Norte do país, para
tentarem levar avante a sua loucura.
Tinha-a enfrentado, em Chaves, integrado neste
regimento de que restam uns quantos elementos.
Quando a batalha começou, algo de estranho que
nunca experimentara se fizera dentro dele: uma
espécie de surdez a todas as ordens
contraditórias que relampejavam na sua mente,
excepto às que lhe garantiam a sobrevivência.
Disparara ao ouvir “mata, senão morres!” e o
adversário à sua frente tombara, atingido na
anca. Mas agora era o brado do ferido que lhe
ecoava na mente, imperioso na aflição,
impossível de silenciar na denúncia que fazia do
absurdo de tudo aquilo: “Ai, as minhas belas
filhas...!”. Outro instinto que não o animal
fê-lo gritar para os camaradas que o seguiam um
“Está ferido! Respeitem-no!”, e avançou enquanto
eles se desviavam do homem. Por pouco tempo, o
seu espírito sentira-se a salvo daquela
aberração sanguinolenta: atrás de si,
sobrepondo-se em alguns instantes ao estrondear
macabro da fuzilaria, a voz do soldado
monárquico chamava-lhe amigo. Essa recordação
perdurara, mantendo-lhe a esperança negada pelo
dia-a-dia, cada vez mais degradado e degradante.
Não saberia, porém, dizer em quê. Apenas
esperança.
Haviam vencido a batalha. Iniciaram depois a
marcha em direcção ao Douro, que atravessaram
junto a Peso da Régua, dirigindo-se a seguir
para Oeste no intuito de atingirem a costa e, a
partir dela, com o auxílio de reforços trazidos
pela armada que cercava a foz do rio, expulsarem
os monárquicos do concelho de Gaia e prepararem
a tomada do Porto. Ao longo da caminhada
vitoriosa, as tropas, passo a passo mais
confiantes, faziam ressoar pelos campos e
aldeias um estribilho, festejado com risos e
aplausos por uns, levando outros a enfiarem-se
em casa, temerosos ou rangendo os dentes:
Paiva Couceiro é
valente,
mas lá em Chaves
fugiu,
deu três peidos
de repente.
Vá p’rá puta que
o pariu!
Uma mão no ombro. A voz do cabo Valente.
- ‘Tás bem, moço? Não tens ferida
nenhuma, pois não?
– Não tenho nada, Valente, estou bem.
Assim estivesse a nossa vida.
– Vá, logo pensas nisso mais tarde.
Levanta-te daí, que já ouvi magalas a perguntar
pelo cabo Garção. Temos que avançar o mais que
pudermos, antes que se faça noite. Deixa lá, um
dia destes ‘tamos outra vez no nosso Alentejo.
Tu, em Portalegre, e eu cá em baixo, em Beja.
Falta pouco, carago!, como os gajos dizem aqui,
no Norte.
Põe-se de pé.
Sacode a farda.
Apruma-se.
Continua.
|
 |
|
Talvez 9
Não,
não percebia. Nada fazia sentido. Não era
possível compreender o desígnio divino que lhe
desenhara a existência, dado que nada proviera
da sua vontade, tudo lhe fora imposto desde o
começo. Ninguém escolhe a natureza com que nasce
e o que fizera fora apenas a confirmação daquilo
que era, somente outro alguém agiria de modo
diferente. Ordenado e santificado por Deus para
todos os seres humanos, na existência que Ele
lhe determinara o que fizera tornara-se,
contudo, não somente num pecado como no motivo
do maior e mais irremediável dos sofrimentos.
Chegava a pensar que a Sua vontade criara um
Purgatório ou mesmo um Inferno só para ela, aqui
mesmo, na Terra, para que expiasse as faltas
cometidas – quais… onde… quando…? E como podia o
Bem, que Ele criou, transformar-se em Mal?
Há
certezas que nos despertam no corpo, insondáveis
para a mente, que a invadem e arrastam para algo
mais originário do que a razão. São essas que
decidem a nossa vida, não as outras, hesitantes,
desajeitadas, de que a mente se ufana e a
vontade se envaidece de seguir. Tinha sido uma
dessas certezas, a maior que jamais sentira ou
voltaria a sentir, aquela que, como uma onda
diáfana mas indestrutível, parecera transmutá-la
por inteiro quando os seus braços o acolheram
pela primeira vez, firmando apenas o que a troca
de olhares anterior afirmara já. Mas como, como
era aquilo possível, perguntou-se no meio do
atordoamento dos anos seguintes?
Tantas vezes se convenceu de que
enlouquecera ou de que estaria a enlouquecer…
Mas algo nele correspondia, a seu modo – no modo
que lhe era possível –, ao que se passava com
ela. Algo indefinível e, no entanto, tão
concreto e presente como uma coisa, o que
tornava tudo ainda mais maravilhoso e, ao mesmo
tempo, num sofrimento inimaginável. Doze anos
daquela agonia entre o prazer e o amargor, em
luta permanente pelo equilíbrio da mente,
impedida de procurar um desabafo fosse com quem
fosse pelos riscos que isso traria consigo. Doze
anos cuja recordação lhe era tão cara como
repulsiva e destruidora, em que procurara
esquecer-se de si para se encontrar a si mesma
nesse esquecimento.
Entrará o Tempo nas contas da Eternidade?
Porque suprimi-lo é destruir a memória, varrer o
momento em que algo sucedeu, é fazer desaparecer
o que se passou. “Aconteceu sempre” ou “nunca
aconteceu” é a mesma coisa. Amar é acontecer.
Mas o que lhe acontecera naquela quarta-feira, 7
de Janeiro de 1891, quando chegara ao palácio
real, era algo que punha em causa o acontecer
dela própria, algo que lhe parecia provir de um
ser de humor diabólico.
Apresentara-se à rainha, recomendada por Teresa
de Saldanha, a professora, querida sobre todas
as outras, que continuara a visitar amiúde
depois de ter saído da instituição por ela
fundada e que, em criança, a recolhera das ruas
bem como à sua irmã. A ama do príncipe D.
Manuel, nascido havia pouco mais de um ano,
revelara sintomas de tuberculose e fora, por
isso, dispensada pela Casa Real. D. Amélia
pedira a Madre Teresa que lhe arranjasse alguém
capaz de amamentar e cuidar do filho mais novo,
mas também da conduta e da inteligência
indispensáveis para não provocar deformações no
carácter do infante. Teresa indicara o nome da
antiga aluna, procurando ajudá-la num período em
que a sua vida havia sofrido revezes
irreparáveis.
Casara três anos antes, aos vinte e um,
com um antigo colega de orfanato, Daniel. O
rapaz fizera-se num homem de figura e feições
agradáveis, era honesto, trabalhador, e as
amigas, vendo-o como o pai de família que
desejavam para si próprias, felicitaram-na
quando ele lhe propusera casamento, algumas
disfarçando mal a inveja. Aceitara, julgava ser
amor a amizade e a cumplicidade existente entre
ambos, a sensação de segurança e serenidade
causada pela sua presença. Os arrebatamentos
descritos pelos romancistas e cantados pelos
poetas, a deslumbrante revelação de uma encontro
e fusão de almas, desde sempre e para sempre
destinadas uma à outra numa orgia mística de
corpos e espíritos, considerava-as então como
fantasias ou artifícios literários, que encarava
com cepticismo e humor.
Tudo correra bem até meio do Inverno
anterior à sua ida ao palácio. Logo que
engravidara, em meados de Março, porém, tudo se
virara do avesso. A oficina de marcenaria que o
marido conseguira montar com as economias feitas
e pedindo alguns empréstimos, ardera por
completo no incêndio provocado por um gato vadio
que lá entrara e derrubara um candeeiro a
petróleo, deixando-o sem trabalho e com dívidas
por pagar. Seis meses passados, em Outubro,
Daniel vira-se obrigado a emigrar, pelo que ela
passara a viver em casa da irmã, entretanto
casada com um pequeno comerciante. Uma febre
tropical vitimara-o duas semanas após
desembarcar no Rio de Janeiro, não chegando
assim a saber que a criança morrera dez dias
após o parto. Destroçada, visitara Teresa em
busca de consolo e auxílio, e esta acabaria por
a enviar para uma segunda etapa da sua vida,
muito mais terrível e dolorosa, afinal, do que a
anterior.
Como, como é possível, interrogava-se até
hoje? Parecera-lhe que, num salto feito de
energia por dentro de si mesma, o seu espírito
galgara ao futuro e encontrara aquele menino de
quinze meses não na forma de um homem mas de um
qualquer princípio masculino original utilizado
por Deus na Criação, que a complementava como
mais ninguém conseguiria. Não era de um homem
adulto que se apercebia em quem estava à sua
frente, era de uma alma com quem a sua se unia
no olhar em que ambos se encontravam e na
maneira como lhe estendia os braços e cingia o
pescoço quando lho passaram para o colo. A sua
perturbação não passara despercebida a D.
Amélia. Tomara-a, contudo, por um sinal de
afabilidade, doçura e também do enleio que, com
certeza, a invadira por se encontrar pela
primeira vez na presença da rainha e do
príncipe, sem suspeitar – como o poderia?! – do
casamento de almas que ocorrera perante si.
Desceram sobre ela o Céu e o Inferno, nesse dia
em que a tomaram ao serviço do infante.
A ligação entre os dois era tão clara e
tão forte que a rainha acedeu ao pedido de
Manuel para não a mandarem embora quando passou
o que deveria ser o tempo normal da sua
permanência junto do príncipe. Costumavam
elogiar-lhe a mestria a contar histórias e ela
começara então a contar-lhe todas as que sabia:
as que vinham na Bíblia, ouvidas às freiras; e
as que ouvira a duas serviçais do colégio onde
estivera – uma, já velhinha, de uma aldeia das
Beiras, a outra, de meia-idade, vinda do
Alentejo – que entretinham a criançada no
dormitório antes de apagarem a luz. Histórias de
fadas, duendes, príncipes e princesas, gigantes,
anões, manhas, artimanhas e patranhas, cheias
dos ensinamentos e fantasias com que o povo dele
falava da vida e a enfrentava. Quando as
esgotara, passara a ler-lhe as obras que o
preceptor lhe entregava, vendo assim ela própria
o seu mundo dilatar-se com palavras que antes
desconhecia – mas também a tornar-se, às vezes,
mais difícil de entender.
Ao
fim de algum tempo, sentira-se capaz de se
aventurar sozinha pelo meio dos livros e pedira
autorização para trazer alguns da biblioteca
para o seu quarto, onde os foi desbravando
noites fora. Aquilo que retirava deles procurava
comunicá-lo a Manuel de forma que este pudesse
compreendê-lo sem esforço. Não sabia se a
natureza do que existia entre os dois a isso a
ajudara, mas o certo é que o conseguira quase
sempre. E começara a correr, dentro e fora do
palácio, que o infante demonstrava uma
inteligência superior à da sua idade, que
aprendera a ler com excepcional facilidade e
rapidez, que o gosto que mostrava na leitura
pressagiava nele um estudioso da língua pátria,
ou até um escritor ou um poeta, talvez mesmo,
quem sabe, um novo D. Dinis…
|
 |
|
Talvez 10
– ‘Tão, meu fidalgo? Dorme-se bem aqui? –
Curtido entre a recolha do sargaço e a apanha do
peixe na ria, o rosto patibular do Barbosa
gingava um sorriso manholas, trocista, pelo meio
da barba cerrada de uma semana, quando lhe levou
a refeição na manhã do primeiro dia. Couves, pão
de milho, mais um bocado de toucinho coberto de
sal grosso, amontoavam-se num prato com o verniz
estalado pelo uso e lascado nas bordas, que
pousou num cepo ao lado da porta.
A
barriga proeminente do outro vareiro que o
acompanhava, ficando à entrada, de fusca na mão
não fosse o caso de o prisioneiro se pôr com
ideias tristes, fez ondular as nódoas de gordura
e vinho que medalhavam a camisa sebosa numa
gargalhadinha alvar, para que ninguém tivesse
dúvidas sobre quem era ali o pateta que se deixa
apanhar e de quem depende a vida de quem. – Sede
não há-de passar, que tem aí água com fartura… -
comentou no mesmo tom, apontando para a bilha
escaqueirada.
– E
frio também não – juntou o Barbosa –, que a
palha é quente e, se se enrolar bem na manta que
lhe demos, não lhe entra nenhum. Este Inverno
anda rijo, a gente sabe que os “mouros” não
estão habituados à maneira como ele nos casca
aqui, no Norte… Mas não desanime, meu fidalgo,
que isto está a acabar. Mais umas semanitas e a
República toma outra vez conta do Porto.
– Não sou fidalgo, já lho disse –
respondeu-lhe. O cabelo louro, os olhos verdes,
o porte e, sobretudo, o alinho realçado pelo
modo como se veste e cuida da aparência, leva
muita gente a ver nele um aristocrata, parecido
até com o rei deposto. Mesmo por estes lados,
onde abunda gente de pele e pupilas mais claras,
herdadas do antigo reino Suevo que se estendeu
entre Aveiro e a Galiza a seguir ao
desaparecimento do Império Romano.
– Não sei, não sei… – brincou o Barbosa.
– Isso é o que vossemecê nos contou. Mas se não
é, pelo menos acho que gostava de ser. Há muitos
por aí que estavam à espera de que a monarquia
voltasse para poderem subir na vida e foram
fingindo que se mexiam, para o caso de isso se
dar. Se acontecesse, punham-se logo em bicos de
pés a dizer que tinham feito isto e mais aquilo
pelo rei, para lhes darem um titulozinho ou um
cargo qualquer. E se os republicanos lhes
oferecerem alguma coisa, vai ver!, tornam-se
logo republicanos, o que é que cuida? Mas não,
vossemecê não é desses, não tem idade para isso,
é uma criança, a vida ainda há-de dar-lhe muita
porradinha até perceber como são as coisas na
pocilga… Cá para mim, seja fidalgo ou não seja,
vossemecê deve é fartar-se de ler livros…
– Sim, li bastantes livros. De História,
principalmente. Por isso…
– Nem era preciso dizer, topo-os logo
pelo pisar… – atalhou o Barbosa. – Falam todos
como se estivessem a olhar para o belo dia que
aí vem e que só eles é que veem.
– Ler muitos livros seca o juízo à gente
– meteu-se o comparsa, repetindo, sem saber, o
que Cervantes dizia da loucura de D. Quixote.
– Ora bem… Aqui o Chico mal sabe juntar
as letras e não precisou de mais do que isso
para perceber que há muitos que, por andarem
sempre c’os livros à frente do nariz, não
enxergam onde põem os pés nem as curvas do
caminho. Sim, porque neste mundo, os caminhos a
direito são raros… Quer um exemplo de uma pessoa
dessas? Vossemecê mesmo. Há-de reparar que ainda
não fez a primeira coisa que qualquer um teria
feito, que era perguntar-nos porque é que o
prendemos aqui. Embatucou, não foi? Pois… Então,
diga-me lá: porque raio lhe demos uma pancadinha
na cabeça e o fechámos neste barracão? – O
facalhão que o Barbosa trazia entalado no cinto
pareceu exibir-se quando ele, cruzando a perna,
apoiou a biqueira de uma das botas ao lado da
outra, ao mesmo tempo que inclinava a cabeça
para trás para a apoiar na parede e tirava do
bolso o tabaco de mascar. O Chico limitou-se a
marear as nódoas, desta vez em surdina.
– E
então? O que é que acha? – insistiu o vareiro,
cuspindo saliva enegrecida pelo tabaco, tomando
por hesitação o breve silêncio do prisioneiro.
–
Porque vocês são agentes da canalha republicana,
prenderam-me e agora vão levar-me a tribunal
militar – respondeu.
O
Barbosa inclinava a cabeça para frente,
abanava-a, curvava-se um pouco a denunciar o
risinho silencioso, encarava-o, por fim com uma
expressão sardónica. O Chico, encostado à
ombreira, casquinava.
– Eu
vi logo que daí só podia sair uma dessas… Mas
para que é que haviam de querer levá-lo a
tribunal militar? Merda monárquica a dar despesa
no xilindró já a república tem que chegue. Para
isso, tínhamos-lhe dado um tiro… Ai, essa
cabecinha de alfinete…! Também o que é que se
esperava de quem vem da moirama com três barris
para ajudar ao real forrobodó que alguns malucos
mai-lo russo arranjaram no Porto, como se um
reino se aguentasse muito tempo a poder de
vinhaça...? Para quanto tempo é que vossemecê
acha que davam três barris? Para a cidade
inteira…? Três dias…? Pode ser que saiba muita
coisa, mas é fraquinho em contas. Ia ser bonito,
se o levassem para o governo, ainda era pior do
que muitos que por lá andam… Além disso, sai-me
de Setúbal, todo lampeiro, num barquinho à vela
carregado de moscatel e entrega-o, barril a
barril, entre a Figueira e Arcozelo, a três de
nós que andam por aqui na faina, o último dos
quais fui eu, para o trazerem por terra até Gaia
de maneira a não serem apanhados – pelo menos,
todos eles – pela armada republicana? O que é
que o levou a crer que o pessoal transportava o
vinho cá para cima?
–
Tinha um contacto na lota, um pescador que…
– …
o Zé Rasteiro, que se fartou de falar mal da
República à sorrelfa e lhe contou que havia
muita gente, com vinho ou com armas, a fazer o
que vossemecê fez depois, que ele era monárquico
e que tinha amigos leais ao rei… Vossemecê foi
na conversa, engoliu o isco com anzol e tudo,
entusiasmou-se a pensar que ainda ia ser um
herói e vir um dia naqueles livros de patranhas
que lê, que sabia manobrar um barco, ele
bichanou-lhe que podia arranjar-lhe um, pequeno,
por bom preço, que nos avisava para
descarregarmos a “pomada” e a passarmos para
dentro do Porto, recebeu o dinheiro, pôs-lhe a
embarcação no Portinho da Arrábida, vossemecê
desenrascou-se a acarretar os barris até lá, ele
até deve ter dado uma ajudinha para os disfarçar
não encontrasse alguma patrulha costeira pelo
caminho, disse-lhe que já tinha falado com a
gente, explicou-lhe o caminho, como é que havia
de saber que éramos nós que estávamos nos sítios
combinados à sua espera… Entretanto, também se
andou a informar sobre a sua família.
– Mas afinal quem são vocês? O que querem
de mim?
– Olhe, meu fidalgo, nós somos pessoas
que, de certeza, nunca aparecem nos seus
calhamaços, somos gente sem importância nenhuma
para as histórias que eles contam. Mas já o
bisavô do meu bisavô fazia o que nós fazemos,
acho que isto é mais antigo que o avô-torto do
Afonso Henriques, que eu não sei quem era nem me
interessa. – Riu-se. – Não somos nem pelo rei
nem pela república, ‘tamos a cagar-nos neles
todos. A monarquia nunca nos rendeu um pataco,
isto sempre foi uma miséria, o pessoal a ir ao
mar sem ganhar nada que se visse, os filhos a
chorar com fome, em casa, a gente a deixá-los
órfãos no meio das ondas em frente à praia por
falta das obras que se devia fazer para melhorar
os portos, mas que não se fizeram para o
dinheiro encher os bolsos dos gulosos dos
ministros e dos amigalhaços deles ou dos
conselheiros e protegidos dos reis, gente que
sempre olhou para nós de cima, uns porcos é o
que eles são, escapa-se um ou outro… E os
republicanos também não são melhores, todos à
bulha a ver quem é que manda mais que o outro e
o põe fora do governo, o país está uma miséria e
eles a engordarem à conta do povo e de quem
calha… pois diga-me lá o que é que aconteceu aos
bens que eles tiraram à padralhada, que essa é
outra corja, puta que os pariu a todos… – O
Barbosa falava agora tão exaltado como o tio
Artur. O rosto, porém, não se lhe transfigurava
pela nobreza de carácter, antes se lhe distorcia
numa máscara de furor animalesco, de rancor
selvagem, a saliva a assomar-lhe aos cantos da
boca, as veias do pescoço inchadas, os olhos a
ressumar ódio.
–
Oiça – continuou, recuperando o domínio de si –
houve muitos vareiros e vilões que emigraram,
foram para o Brasil, para a América, para o
Canadá, melhorar a vida. Mas, entre aqueles que
nunca saíram daqui em centenas e centenas de
anos, criou-se uma irmandade: uns, que se
meteram ao mar, a assaltarem navios; outros, que
nem se deram a esse trabalho. Sabe, os
pescadores, de Aveiro até Setúbal, acabam por
ser uma família. Há gente a pescar na ria que
tem parentes na foz do Tejo, em Sesimbra… – e
não interessa que sejam primos afastados, ao fim
somos todos da mesma parentela. Torna-se fácil
passar informações entre a gente, sabemos quais
são os navios a passar pela costa que nos
interessam. À noite, acendemos fogueiras em
terra para enganarmos os pilotos, eles pensam
que é a luz do farol e vêm direitinhos às
rochas; de manhã, é só recolher o que o mar
trouxe à praia. Chamam a isto pirataria de
terra. A gente chama-lhe “o que tem que ser”.
– Eu chamo-vos miseráveis, assassinos de
inocentes – foi o que conseguiu articular.
– Tenha cuidado com a língua que, por
menos, já esta – apontou para a faca – a tirou a
alguns. E vossemecê é dos que gosta de falar,
por isso veja lá se fica sem um gosto na vida –
ou sem vida, não vá esvair-se em sangue, que
aqui não há quem o socorra… Ora assim é que é,
gosto de os acalmar com umas palavrinhas na
altura certa… Mas eu percebo-o… as pessoas,
quando perdem o trambelho, são capazes de fazer
e dizer os maiores disparates. Vossemecê ficou
transtornado pelo que acontece aos desgraçados
que não conhece; eu e os outros, que fazemos o
que ouviu, ficamos transtornados pelos que
conhecemos.
– Isso não vos desculpa em nada,
assassínio é assassínio. – O Barbosa encolheu os
ombros.
– Pode ser que sim. Mas olhe, uma coisa
que a vida me ensinou é a não discutir, não vale
a pena. Não é necessário muita conversa. Se
querem que a gente pare, é simples: façam alguma
coisa por nós. Não queremos nenhuma esmola, só
que nos ajudem no que é preciso para podermos
arranjar de comer e, com isso, o Portugalito
também ganha, ou não é? Vão ver que, depois, a
maioria há-de dizer que se arrepende para sempre
do que fez – ou melhor, finge que se arrepende,
é mais que certo… Mas de qualquer maneira já
será tarde: para os que morreram, para os que
mataram e para a cambada que permitiu que as
coisas chegassem a este ponto – ou porque estava
a roubar o dinheiro que havia de servir para as
obras ou porque nunca se importou com a miséria
em que vive o pessoal da pesca. O mundo é uma
estupidez feita de filhos-de-puta, o que quer
que eu lhe diga?
– Quero que me diga o que faço eu e os
outros que vocês apanharam no meio dessa
nojeira, que ainda não percebi. – Sentia-se cada
vez mais desorientado.
– É só pensar um bocadinho, que até lhe
faz bem. Como é que se pode afundar navios
mercantes ou passar contrabando – que a gente
também o passa… – se a armada republicana não
nos larga a braguilha, a patrulhar a costa acima
da Figueira da Foz? Lembrámo-nos disto e
resultou, já caçámos uns dez tão aluados como
vossemecê e fomos guardá-los em sítios que mais
ninguém conhece para pedirmos uns dinheiritos à
família. Daqui a pouco tempo, quando os
republicanos derem cabo dos monárquicos. Houve
aí um de vocês que se armou em esperto, e como
não conseguíamos abrir-lhe a cabeça para lhe
meter juízo, abrimos-lhe as goelas… Agora, até
pode dar melhor os sermões dele aos peixes.
Pois, é assim mesmo… E, repare nisto, aprenda
com Nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou que os
bons serão os donos da Terra, mas que não é
daquela em que a gente vive, é de uma outra –
que esta, meu amigo… Por isso, se foi ele
próprio a dizê-lo, o que é que a gente pode
esperar?
– E se nos queixarmos à polícia quando
nos soltarem? – balbuciou, atarantado.
– Oh
santinho, só numa cabeça como a sua é que cabia
a ideia de ir queixar-se à polícia republicana
por o terem apanhado a querer ajudar o rei… Está
a ver o que lhe acontecia… Ainda passávamos nós
por patriotas… se calhar até nos davam medalhas
e tudo… Mas é melhor não, que assim continuamos
a passar nos intervalos da chuva sem ninguém nos
chatear. Bem, mas o paleio já vai longo e temos
muito que fazer. Fique-se com Deus, que é boa
companhia para todos. Voltamos amanhã.
Quando, no outro dia, vieram trazer-lhe a comida
e a água, nenhum dos raptores falou com ele. O
Barbosa mostrava-se carrancudo e pouco disposto
a conversas, talvez por achar que dissera
qualquer coisa que não devia, o Chico limitou-se
a assomar, sempre de pistola em punho. O
silêncio manteve-se nas quatro semanas seguintes
sem que, apesar disso, lhe apetecesse quebrá-lo.
Aquela era gente infame, perversa até no modo
como justificava os seus crimes. Tivesse ele uma
arma, e abatia-os sem hesitação antes que
matassem mais inocentes. Uma vez, porém,
decidira-se a perguntar-lhes:
– E
se vos acontecer alguma coisa? Morro aqui?
–
Olhe, amigo, é a vida… reze… – respondera-lhe,
seco, o vareiro.
A
calcular pela luz que, na altura, entrava pelo
buraco na telha-vã, o gato havia-o descoberto na
madrugada do primeiro dia em que não vieram
trazer-lhe a refeição. Este era o quarto em que
ninguém aparecia e a noite aproximava-se, deviam
ser umas quatro e meia da tarde porque ali
dentro já se via mal. Cada vez mais debilitado
pela fome e pela sede, a companhia do animal
salvara-o de cair na loucura, serenando-lhe o
espírito.
Por
quanto tempo ainda? Não consegue calculá-lo. Nem
sequer deseja fazer tal pergunta.
|
 |
|
Talvez 11
Aos seis anos, o príncipe Manuel não só
falava como escrevia já em francês, língua que
ela agora também falava e lia, depois de sua
Alteza ter batido o real pé e feito uma real
birra para que a ama pudesse assistir às suas
aulas. Pudera, assim, ler um pequeno livro sobre
filosofia no qual se tratava do que dissera um
tal René Descartes, e o que lera ameaçara-lhe a
partir daí, por muito tempo, o fragilíssimo
equilíbrio mental conseguido durante anos em
luta desesperada – nem sabia se consigo própria,
pois que era isso o que se jogava e jogara
sempre. Porque nunca mais o seu espírito cessara
de enfrentar a hipótese haver sido um génio
maligno quem nos criou para se divertir a
ver-nos errar.
Ao
contrário das opiniões dos entendidos no
assunto, achava que não fora apenas para esgotar
todas as dúvidas possíveis que o filósofo a
pusera, e em último lugar. É que essa seria a
situação mais aterradora que se poderia supor
para a existência, a única realmente de vida ou
de morte, por nos atar, para sempre e sem
remédio, ao arbítrio de alguém que não nos ama.
Talvez Descartes tivesse razão nos raciocínios
com que logo a desfizera, não possuía saberes
suficientes para os compreender por inteiro, mas
suspeitava de que ela lhe ocorrera não tanto
pelas nossas certezas mas porque a vida,
indiferente ao que pensemos, parece
comprazer-se, perversamente ou não, em continuar
a levantá-la debaixo dos nossos passos.
Ouvira já bichanar, entre risinhos cúmplices
abafados ou lágrimas e faces rubras de vergonha,
quantas histórias de amas que iniciavam no amor
carnal as crianças entregues aos seus cuidados…
Sabia por si própria que elas eram, na
realidade, as verdadeiras mães, quem lhes dava
os mimos e os carinhos, e compreendia, por isso,
que os rapazes pudessem chamar à ama “a sua
namorada” sem a que a presença de um pai o
contrariasse, como sucedia com aqueles que de
quem as próprias mães cuidavam. Sabia que muitas
se encontravam sozinhas ou que os seus
casamentos estavam longe da felicidade, que a
carne é fraca, que a sede de carinho leva –
tantas vezes! – à miragem, a julgar achá-lo onde
ele não se encontra, e que assim entremos por
caminhos ínvios, geradores de um sofrimento e de
uma degradação maiores do que o que nos levou a
percorrê-los. Sabia que tudo isto era comum,
demasiado comum, mas sabia também não ser isso o
que vivia.
A
relação indestrutível firmada entre ela e Manuel
desde o primeiro instante, era entre almas. O
desejo um do outro assentava no mais fundo de
ambos, nada no corpo infantil lho despertaria. E
entrelaçava-os cada vez mais, à medida que o
espírito do príncipe – do seu príncipe –
amadurecia e se revelava no homem – no seu homem
– que ia aos poucos surgindo aos olhos de todos.
Mas era esse homem que, de algures no tempo,
também a fora chamando num crescente número de
sonhos, em sonos perturbados pela inquietação
que lhe agitava o corpo à míngua de carícias. A
criança, o rapazinho, chegara aos treze anos em
15 de Novembro, a sua figura e o seu porte
começavam a desenhar o adolescente, e ela
sentia-se perdida como nunca estivera.
Visitara Teresa de Saldanha três semanas depois
do aniversário de Manuel. A certa altura, fizera
derivar a conversa para a questão do que
aconteceria aos que tinham querido estar juntos
em vida sem que as vicissitudes desta o
permitissem. Teresa, certamente desconfiada de
qualquer paixão escondida, lembrara-lhe uma
passagem do Evangelho. Segundo a lei hebraica, o
irmão de um falecido deverá casar com a viúva e
tomá-la a seu cargo. Os saduceus, que diziam não
haver ressurreição, perguntaram um dia a Jesus:
«Mestre, se um homem que tenha sete irmãos
morrer, morrendo em seguida aquele que tiver
casado com a viúva, e assim sucessivamente até
que todos hajam morrido, com qual deles ficará
ela após a ressurreição?». Ao que Cristo lhes
respondera: «Na ressurreição não se casam nem se
dão em casamento, mas serão como os anjos no
Céu. E quanto à ressurreição dos mortos não
leram o que Deus disse: “Eu sou o Deus de
Abraão, de Isaac e de Jacob”? Porque não é Deus
dos mortos, mas dos vivos.». Percebera – ou
julgara perceber – o que Jesus afirmara sobre as
almas, que elas virão a ser como os anjos após a
ressurreição. Mas ainda hoje não conseguia
entender o que Ele quisera dizer com aquilo de
Deus não ser Deus dos mortos, mas dos vivos.
Foi
logo a seguir a regressar ao palácio que D.
Amélia a chamou para lhe comunicar a dispensa
dos seus serviços a partir do início do ano
seguinte, exactamente doze anos depois da data
em que entrara. Sairia com uma carta de
recomendação, assinada pelo punho da rainha de
Portugal, na qual se realçaria a sua excepcional
dedicação ao infante e o papel extraordinário
que desempenhara na educação do príncipe. Seria
também por mérito dela que D. Manuel detinha já
a maturidade e a vastidão de conhecimentos que
lhe permitiriam, no próximo ano, acompanhar a
mãe e o primogénito, Luís Filipe, na viagem ao
Egipto noticiada pela imprensa. Mas “o seu
menino” entrara na adolescência e chegara a hora
de cortar o cordão umbilical que, através da
ama, o prendia à infância. Não queria com isso
dizer D. Amélia que ficasse proibida de o ver,
bem pelo contrário, visitas ocasionais
afiguravam-se-lhe até bastante desejáveis.
Contudo, para que o inestimável trabalho que
iniciara pudesse ser completado, tornava-se
imperioso deixar agora o palácio.
A
confusão inominável em que lhe turbilhonara o
espírito até à partida levara a que ainda hoje
não se conseguisse recordar desses dias com
clareza. O mesmo deveria ter acontecido ao
príncipe que, informado do que a rainha decidira
e consciente da inutilidade de qualquer
oposição, se refugiou num silêncio insondável,
quase agressivo. O dia nevoento e frio em que se
despediram, num último passeio pela Pena,
decidira a memória que a Eternidade guardaria
dela. Naquela outra quarta-feira, 7 de Janeiro
de 1903, num impulso que a cindia tanto como a
unia, que lhe parecia vindo de fora de si
própria embora ansiado por todas as suas
vísceras, fizera de Manuel, aos treze anos, o
homem que ele desejava ser. Deixou-o sentado na
relva com o rosto escondido entre as mãos,
correu ao quarto, pegou na única mala que
preparara, saiu do palácio sem que ninguém a
visse e caminhou não sabia nem por onde nem para
onde nem se de dia nem se de noite.
Passados dezanove anos, esperava-o ali. Ela, a
ama, a Madre, a amante do rei. E, pressentia-o,
pela última vez.
|
 |
|
Talvez 12
–
Estais firmes na vossa decisão?
–
Sim, matemo-la agora.
– E
ele?
–
Quem?
– O
filho…
–
Logo se verá.
|
 |
|
Talvez 13
–
Ora boa noite! Como está a D. Inês?
–
Seja bem aparecido, o senhor D. Pedro…! Eu estou
bem. E Vossa Excelência, como passa?
–
Também estou bem, muito obrigado!
–
Hmmm…! Pelo ar já vens “quentinho”…
–
Desculpa lá…! Mas, estava a tasca quase a
fechar, apareceu um sujeito que queria saber se
havia por aqui algum sítio onde pudesse dormir,
para amanhã seguir para Viana do Castelo.
Depois, perguntou se ainda lhe podiam servir o
jantar, o Adelino – já sabes como ele é… – não
quis perder dinheiro e lá arranjou qualquer
coisita. Acabou por me dar o que sobrou na
frigideira, nem me levou nada, paguei o copo de
vinho para acompanhar o petisco e fiquei a
conversar com o homem, para não o deixar a comer
ali sozinho. Quando acabou, viemo-nos embora,
ele agradeceu-me a companhia e pronto,
despedimo-nos. Por acaso, era uma pessoa
simpática…
–
Pelos vistos, mais simpático do que a tua
mulher, que deixaste aqui com o jantar pronto…
–
Podias ter jantado, escusavas de estar à minha
espera, sabes que eu não gosto disso.
–
Para a próxima janto, podes ter a certeza… Agora
vou ter que aquecer tudo outra vez…
–
Pronto… eu sei que tens razão… mas hoje é
sexta-feira, amanhã não preciso de me levantar
cedo para ir trabalhar… E nunca ouviste dizer
que, às mulheres, homem que não bebe e não fuma
cheira-lhes a coelho manso? Vá lá… Eu não fumo…
beber, só qualquer coisita, nem é muito… mais à
sexta, depois do trabalho… qualquer dia…
–
Cantas bem, mas não me alegras. Sabes a quantos
ainda estamos hoje? Ainda… daqui a bocado já não
estamos...
–
Hoje estamos a 6 de Janeiro…
–
…dia de Reis, portanto amanhã será 7 de Janeiro
de 1978…
– …e
o catraio faz dezoito anos, pois é…! Esqueci-me!
Tenho que lhe comprar uma prenda…
– …
Pois… vossemecê é muito distraído… O que vale é
que eu me adiantei.
–
Ele está acordado?
–
Está, está… Está deitado, a ler.
–
Sempre a ler, sempre a ler… Aquela cabeça não
pára de andar às voltas lá com aquelas coisas da
História, da Física e não sei que mais...
Deixa-me ir ter com ele que não o vi há bocado,
quando cheguei a casa. Vai-me arranjando uma
sopinha, que eu venho já.
Enquanto passava pelo corredor ia-se preparando
para aquilo que sabia que aí vinha… certo como o
destino. Apoiou-se no lado de fora da ombreira
da porta e assomou a cabeça para dentro do
quarto. Lá estava ele a olhar para o tecto, as
mãos cruzadas por baixo da cabeça. O gato, como
não podia deixar de ser, enroscado ao fundo da
cama.
–
Ora boa noite, sr. Artur! Então? Com a luz acesa
a esta hora?
–
Olá, pai! Estou aqui a ver se…
–
Vá, toca a apagar a luz e a dormir, que é tarde.
–
Estava a pensar numa coisa…
– Ui!
–
Queres ouvir? Não demora nada… vais achar que é
giro.
Ui!
Ui!
–
Eu…
–
Entra e senta-te um bocadinho. São só uns
minutos, enquanto a mãe te aquece o jantar.
Estava tramado!
Entrou. Sentou-se na borda do colchão.
–
Diz, mas tem que ser rápido, senão ela deita-me
fogo de vez.
–
Ontem, um professor falou na aula de um assunto
que te pode parecer estranho…
E
ele, ainda por cima, com um copito, oh que
porra!
– É
assim: o mundo é um conjunto de fenómenos em que
um provoca outro, esse por sua vez outro e por
aí fora. Já sabias, falámos disso noutro aqui há
tempos…
Perfeitamente…! Oh sorte…!
–
Sim, sim…
– Se
eu der um pontapé numa bola, o pontapé é a causa
do deslocamento dela; e se ela, a seguir, bater
noutra e a fizer rolar também, passa a ser ela a
causa do movimento da segunda. O mundo, o
Universo todo, é um encadeamento de fenómenos.
Por isso, não podemos falar de fenómenos
isolados, como está tudo ligado são uma data de
fenómenos em conjunto a causar um efeito
composto também por uma data deles. O pontapé é
o efeito de um conjunto de fenómenos simultâneos
– físicos, químicos – produzidos pelo meu corpo,
e o deslocamento da bola também porque, somados
ao meu pontapé, estão o atrito do solo, a força
da gravidade, etc. Ou seja, só conseguimos
estudar a relação de causa-efeito entre sistemas
de fenómenos, uma vez que estão todos ligados.
Para
o que estava guardado…! Mas não podia
desiludi-lo. Mesmo não percebendo, dizia-lhe
muitas vezes que sim, senão o rapaz sentia-se
desacompanhado… Ainda podia perder-lhe o
respeito, por achar que ele era burro. Adorava
aquele filho, tinha um enorme orgulho naquela
cabecinha, mas às vezes não era mole, não, como
diziam nas telenovelas brasileiras. Pigarreou.
–
Sim, e então?
–
Mas nós, disse o professor, podemos estar a
cometer um erro tão grande como aquele em que
caímos durante milhares de anos, quando
insistimos, por preguiça, na ideia de que era o
Sol que andava à nossa volta, sem pormos também
a hipótese de ser o contrário o que acontecia,
que seríamos nós que estávamos a andar à roda,
que o Sol está parado e que parece mover-se
porque vamos a passar em frente dele.
Hmm…
Esta parte tinha-a apanhado. Talvez conseguisse
perceber o resto.
–
Pois… E o que é que ele disse mais?
|
 |
|
Talvez 14
O
tilintar de algo a cair no chão. Um pequeno
baque surdo.
–
Quarta-Feira!
O
gato voltou. Tal como Robinson Crusoé, deu ao
seu novo amigo o nome do dia da semana em que o
salvara. Só que o salvador, aqui, é o gato, a
protegê-lo da loucura.
–
Quarta-Feira, o que andas tu a fazer? Não é
costume vires a esta hora… O que é isso que
deixaste cair do tecto? Deixa lá ver… Até pode
ser…
Um
pequeno punhal! Um estilete! Como…
Ele…
…dá
consigo ao pé da porta, a procurar abrir a
fechadura com a arma sem o conseguir, depois a
esforçar-se por escavar em redor dela para a
retirar com uma energia que o surpreende pelo
instante que perdeu a pensá-lo, já quase não há
luz… não há luz… tacteia para saber de onde ir
retirando a madeira, fere-se, grita, chupa o
sangue dos dedos, a fechadura fica agora no
centro de um pequeno buraco que o ânimo, de
súbito outra vez intacto, vai aumentando aos
poucos até ficar do tamanho da ira que agora já
pode sair-lhe do peito, descomprimindo-lho,
agora vão ver, vão ver, vão ver, vão ver, o
buraco cada vez mais fundo, a fechadura abana,
tenta forçar a porta, ainda não, só mais um
bocadinho, torna a ferir os dedos, não faz mal,
furou-a finalmente, sente-o, enfia o dedo,
espeta-se-lhe uma farpa de madeira, tira-a com
os dentes e chupa de novo o sangue, sente-lhe o
gosto numa alegria selvagem, ri, escava mais,
mais e mais, a fechadura dá de si, atira-se
contra a porta, uma vez, duas vezes, fica
agarrado ao ombro por momentos, dói-lhe, ri,
selvagem, bate-lhe com o pé com toda a força de
que é capaz, a porta range, mais uma patada,
outra, outra, outra, vão ver, porcos, porcos,
assassinos, a nobreza há-de dar cabo de vós, não
chega, escava mais, mais, mais, mais um pontapé…
Eu!
Sebastião!
Saí!
…saí, saí, saí, saí, saí, saí, ar, ar, ar, ar,
névoa, que horas serão, quanto tempo terei
demorado, impossível sabê-lo, para onde devo ir,
e por onde, cabeça fria, o que é aquele vulto
ali à frente, é aquele armazém que vi a pouca
distância deste quando aquela gente, nem isso!,
me trouxe para aqui, ficava a norte, para ali é
o norte, mas é melhor ir pela praia, não conheço
os caminhos, a praia fica para Oeste, para
aquele lado, portanto, apura o ouvido, vê se
ouves barulho de ondas, parece, sim, vamos por
este lado, cuidado, o carreiro é mau, talvez
haja gente a rondar, é preciso ter cuidado,
estar atento a alguma coisa que se mexa, alguma
coisa que se oiça, cuidado, não torças um pé, o
barulho das ondas está a ficar mais forte, uma
descida, deve ir até à praia, só pode ser,
devagar não te apareça um buraco de repente,
porcos, assassinos, deve ser um local solitário,
pois, para te trazerem para aqui, parece areia,
é areia, estarei já à beira da praia, agora é já
só areia e pelo barulho o mar tem que estar ali
ao fundo, é melhor não me aproximar muito da
água não venha alguma onda grande e me arraste,
não conheço o mar aqui, é melhor tirar as botas,
vou deixá-las entre esta pedra e este arbusto,
assim hei-de dar com elas quando sair disto,
canalhas, ora agora para este lado, devo estar a
ir em direcção à foz do Douro, tenho fome,
sinto-me fraco, mesmo assim é melhor correr, a
ver se lá chego antes de clarear não vá alguém
ver-me e depois subo pela margem do rio, até
Gaia, corro, corro mais…
…corri, estou cansado, quantos quilómetros terei
avançado, se calhar nem um, com esta fraqueza
canso-me depressa, como estarão eles, os meus
tios, os meus tios, pobres tios, pára, Pára! o
que é aquilo, o nevoeiro não me deixa ver bem
mas parece-me uma cruz, uma igreja? à beira-mar?
sim é uma igreja, estranha, feita, parece, em
hexágono, afinal vou parar um bocadinho, ali ao
canto ninguém me pode ver nesta escuridão e com
este nevoeiro, está muito frio não te podes
demorar muito, senão ficas mesmo sem forças para
prosseguires...
dormi
estou gelado
vem
aí alguém
tenho o estilete
cercam a igreja!
virão buscar-me
tenho o estilete
quem
são eles
há
um que sobe
tenho o estilete
tenho o estilete
mas
foi para o outro lado
fica
quieto!
fica
à escuta!
|
 |
|
Talvez 15
Que
horas serão?
Não
virá?
Ter-lhe-á acontecido alguma coisa?
Frio!
Frio! Como se o nada gelado entre as estrelas
houvesse transmigrado para dentro de si. Como se
o Sol se tivesse apagado para sempre e a
esperança maior seja a de que o fim chegue
depressa. Um fim rápido, incisivo, seco, que a
leve de um mundo em que a própria casa da irmã,
que tanto a ama e a quem ela ama tanto, se lhe
tornou insuportável.
Frio! Todo o frio que procurou iludir durante
doze anos, o destino gélido, inumano, que a
condenou a não poder partilhar com ele o
existir, mesmo que a deixassem viver o resto da
vida ao seu lado. Talvez Deus compreenda tudo
aquilo, ela não.
Frio, frio, frio! Como é possível tanto frio?
Como foi possível transmutar-se o maior amor na
maior pena? Porque só a mais profunda união de
almas poderia ter conseguido que ela esteja
agora grávida, só o homem que habita já dentro
dele poderia ter operado tal prodígio aos treze
anos! Grávida! Grávida, quente, frio, frio!
Porque não há qualquer esperança, para quem aí
vier, de saber em que circunstâncias foi
concebido sem delas sentir vergonha.
Teresa, ajuda-me! Explica-me a Vontade oculta
por detrás disto! Não me perguntes nada, sei que
não me perguntarás nada, abre a minha vida à
Vida que celebras na tua! Sim, Teresa, irei
contigo, estarei ao teu lado, aqui e quando Ele
nos confrontar com o que fizemos e fizermos e
implorarmos a Sua misericórdia.
Deixo-vos o meu filho obscuro. Dai-lhe o nome do
rei mais jovem que Portugal teve. Sebastião.
Dizei-lhe que a sua mãe morreu, fazei dele a
história do seu outro irmão. Deus vos abençoe
por tudo.
Que
a sua mãe morreu. Sebastião.
Que
a sua mãe morreu.
Morreu.
Está
viva apenas como quem perpassa pela vida. Luta
para que haja sorrisos nos rostos encardidos
pela miséria, humilhados pelo abandono, ferozes
por vezes, acicatados pela cupidez. Vive da vida
dos outros, do porvir dos outros que não é seu,
que nunca poderia ser seu. Assim se protege do
frio até que a sua hora chegue.
Frio! O sofrimento dele, o pranto dele, sem que
ela esteja lá, sem que possa acarinhá-lo e
consolá-lo naquele Fevereiro assassino. Frio!
Frio! Mas depois está com ele, reconhece-se ao
seu lado em cada gesto do homem, do agora rei
que conhece e ajudou a desvelar.
Não,
não lhe importa a Gaby Deslys (1) que trouxe de
França, com que enche de vida a sua cama no
palácio. Mesmo que a morrer de novo de uma mágoa
fria, fria, fria como o ciúme. Vive, no desejo
de que ele viva. E de que possa esquecê-la.
Morte!! Sente-se morrer na quarta-feira maldita
que é 5 de Outubro de 1910. De inquietação, de
separação, de um exílio cada vez mais
definitivo. Mas Teresa não morre, Teresa vive de
outra vida, nem sequer perpassou por esta, não é
como ela, um anjo que procura reerguer-se, um
anjo a que ainda chamam irmã Mariana. Ignora os
que a maltratam, que a querem destruir. Não
percebem que não a atingem, que apenas atingem
aqueles a quem sempre desprezaram e continuam a
desprezar, a miséria rilha os dentes como
dantes. Mas Teresa entra em coma noutro 7 de
Janeiro, o de 1916, morre no dia seguinte. E
ela, irmã Mariana, não a chora. Vive cada vez
mais como quem perpassa.
Voltará como rei? Chegou ao Porto? Resistem,
eles resistem. Há quase um ano.
Frio? Frio? O rei enviou um convite para que a
Ordem volte ao Corpus Christi de Gaia! Saberá
que…? E ela, o que sabe de si própria? Treme,
treme de frio.
Treme de frio ao chegar ao Convento. Que nenhuma
das companheiras veja tremer a Madre que o
Conselho da Ordem, desde há dez anos
clandestina, nomeou. Que ninguém possa
suspeitar. Mesmo que D. Manuel envie de imediato
um mensageiro, marcando um encontro com Madre
Mariana de Jesus para o dia seguinte,
quarta-feira, 7 de Janeiro de 1920. Num lugar
isolado, a igreja do Senhor da Pedra, em
Gulpilhares.
Treme de frio, treme de frio, treme de frio,
treme de frio no interior do templo, apoia-se no
altar, Cristo protegê-la-á. E é agora Cristo que
– como na Idade Média, em que o casamento se
sagrava na própria igreja, por vezes mesmo
testemunhado por todos – testemunha desta vez
Ele próprio a segunda união carnal, sacralizada
nos primórdios intemporais do Mundo e destinada
à Eternidade, entre Mariana e Manuel, vivos
deste mundo. Ali, no chão da igreja do Senhor da
Pedra, em frente ao altar, soa o cântico gemido
do amor, abre-se a cúpula do Universo para que
os anjos se enlevem com ele. Que não separe o
homem o que Deus juntou!
Frio! Porque o repele o homem. Porque condena à
escuridão o que Deus quis que estivesse em plena
luz.
Frio! Porque o mal que destruiu Teresa se acirra
contra ambos, sufoca-os, quer voltar a expulsar
o seu Manuel da Pátria.
E
finalmente, um mês atrás, um frio de morte,
trazido por ele, por ele!, como se houvesse sido
obrigado a capitular sem o saber. O frio da
maldição que espreita, sarcástica, numa decisão
que apenas a Deus poderia caber, mas que lhe
entregara a ela, como se a tentação fosse uma
prova – mas de quê? para quê? – ou como se,
afinal, não houvesse Deus nenhum, mas apenas um
ser malévolo que se divertisse a destruí-la.
“–
Mariana, precisamos de todo o vinho que ainda
haja para continuarmos a resistir. Por favor,
entrega-nos aquele que está destinado à
celebração da Santa Missa. Não é só da monarquia
que se trata, é também do futuro da Igreja em
Portugal. Eu sei, eu sei… Mas recorda-te do que
Cristo disse aos que o criticaram por curar ao
sábado, que a lei foi feita para o homem e não o
homem para a lei. E que lembrou o exemplo de
David, que deu a comer aos seus soldados os pães
sagrados da proposição quando nada mais havia
com que pudessem alimentar-se.”.
Frio
ou premonição?
Cedera.
Frio.
Ouve. Um automóvel. Bater de portas. Vozes.
Vozes de comando. Passos.
Frio.
Frio.
(1) Gaby
Deslys
(4 de Novembro de 1881 – 11 de Fevereiro
de 1920)
foi uma famosa actriz do
começo do século XX. Dizia ter nascido
em Marselha com o nome de
Marie-Elise Gabrielle Caire, mas a possibilidade de ser de origem checa
alimentou um conjunto de especulações
que perdurou muito para lá do seu
falecimento, aos 38 anos, em Paris, na
sequência da gripe espanhola que
contraiu.
Doou aos
pobres de Marselha a enormíssima fortuna
acumulada, inclusive a casa, que foi
entregue a uma instituição de caridade.
A cama de talha dourada em que dormia,
com a forma de um grande cisne, foi
comprada e usada pela Universal
Studios
em vários filmes, como,
por exemplo, n’O Fantasma da Ópera.
Gaby Deslys e D. Manuel II conheceram-se numa deslocação do rei a Paris,
em 1909, e a sua ligação manteve-se após
a saída deste do trono. O
relacionamento, largamente noticiado nas
primeiras páginas da imprensa mundial,
passou quase despercebida à portuguesa,
com excepção dos jornais republicanos
que atacaram e desprestigiaram D.
Manuel, referindo-se a Gaby como a
prostituta residente no Palácio das
Necessidades com quem o rei desbaratava
o dinheiro do país. Gaby Deslys nunca
especulou sobre essa relação, muito
embora não a negasse. A ida da actriz
para os palcos de Nova York, em 1911,
arrefeceu a relação, mas apesar do
envolvimento com o seu colega de palco,
continuou a visitar Manuel, que passara
a residir em Londres.
|
 |
|
Talvez 16
– Ei-la.
– Avancemos.
|
 |
|
Talvez 17
–
Bem, há outra coisa ainda. Para estudarmos o que
quer que seja, temos que supor que isso que
pretendemos estudar é uma unidade, quer dizer,
que as suas partes interagem em bloco umas com
as outras, à parte de tudo o resto. Tu formas
uma unidade porque as tuas partes se unem para o
mesmo fim, que é a tua sobrevivência – e
vice-versa, porque o teu fígado, os teus
pulmões, nenhuma das tuas células sobreviveria
sem ti. Se tu existes porque elas existem, elas
também só existem porque tu existes.
–
Hmm…
–
Mas, se reparares, nem tu nem ninguém nem nada é
uma unidade, porque todos estamos dependentes de
todos, tudo está dependente de tudo. Tu, a tua
unidade, faz parte da unidade da cadeia
alimentar, por exemplo, que, por sua vez faz
parte da unidade do planeta Terra, que por sua
vez faz parte… do Uni-verso, que é a unidade
final suposta e, portanto, a meta do
conhecimento humano
–
Sss…sim…
–
Acho que havia um filósofo qualquer, Hegel,
salvo erro, que dizia que só há um conhecimento
verdadeiro: o do Todo. E está certo, porque
apenas se pode compreender quais e como se ligam
os elementos de um conjunto quando conhecermos o
que é o conjunto. Antes de o sabermos, tanto
podemos estar certos como errados. É o que se
chama “a pescadinha de rabo na boca”. Não nos
resta mais nada senão andar a tactear.
– E
então…?
–
Olha, é como fazer um puzzle sem termos a
gravura: começamos a juntar peças que nos
parecem formar um animal, mas, afinal, as que
sobram não encaixam; depois, parece-nos que, com
estas e as anteriores, formam um outro, que pode
até não ter nada a ver com o primeiro; a seguir,
vemos que também não dá com este modelo; para
cúmulo, descobrimos que havia peças que não
víramos debaixo da mesa e chegamos à conclusão
de que haverá muitas ainda, espalhadas sabe-se
lá por onde…
Aguenta!
–
Ora bem, agora é que vem o problema, segundo o
professor…
Agora…!
–
Diz.
– É
que nós, além de termos capacidades limitadas de
conhecimento, tendemos, como já disse, a seguir
o caminho que dá menos trabalho. Olhamos para o
que à primeira vista tomamos como um sistema
individual e consideramos que é esse sistema que
se relaciona com os outros sistemas semelhantes,
formando o sistema geral. Mas, se nós não
conhecemos a totalidade, como podemos ter a
certeza de que é assim? Quem nos diz que, no
conjunto de sistemas que forma o sistema comum,
as coisas não estão assim tão à vista e que é
isso que origina os nossos erros no conhecimento
dessa totalidade?
–
Hmm…
–
Vou dar-te mais um exemplo. A nossa medicina
fala de sistemas dentro do sistema geral que é o
corpo humano, mediante a existência de grupos de
órgãos que executam determinadas funções e não
outras: o sistema digestivo, o sistema
respiratório, etc.. Os sistemas não se
relacionam, a não ser que o mau funcionamento de
um se reflicta noutro ou em todos eles: os
órgãos do sistema digestivo não têm funções
respiratórias e vice-versa, mas uma anomalia num
poderá ter consequências noutro ou noutros ou em
todos. Mas, na medicina tradicional chinesa, as
coisas não são vistas desse modo, consideram-se
como estando num mesmo sistema órgãos com
diferentes funções – e o certo é que curam
doenças utilizando essa perspectiva porque, para
eles, o que interessa é a energia, que é a base
da existência seja do que for – pensamos nós… O
que quero eu dizer com isto – eu, não, o
professor? Que, quando se trata de estudar o
Universo, eu não sei se o sistema a estudar será
constituído por subsistemas aparentemente óbvios
ou se pela relação entre partes dos diferentes –
por nós supostos – subsistemas. Assim a brincar:
eu não sei se as minhas acções, que julgo serem
produto do meu eu que considero ser um
subsistema, não são afinal as acções de um
subsistema Artur-Sebastião, isto é, que não
existe nenhum subsistema Artur nem nenhum
subsistema Sebastião. Ou até, quem sabe, que o
subsistema a considerar é o que existe entre o
meu olho esquerdo e pata direita dele.
Percebeste?
O
que poderia dizer-lhe?
–
Mais ou menos… Só sei que tu e o gato formam cá
uma parelha desde que ele apareceu, perdido… –
Riu-se. – Mas vá, amanhã, explicas-me melhor.
Agora…
–
Espera, ainda não te falei daquilo em que eu
estava a pensar, só da aula.
Sentia-se cansado depois do dia de trabalho, e
ele ali, fresquinho que nem uma alface…! Quando
é que o raio da mulher o chamava, para ir comer
a sopa e dormir? Embora, no fundo, estivesse
fascinado pela esperteza e pelo entusiasmo do
rapaz… Quer dizer, ele não estava a perceber
quase nada, mas aquilo… parecia-lhe bem.
–
Então diz lá! Mas agora tem mesmo que ser
rápido, preciso de ir deitar-me.
–
Levo dois minutos. Alguma vez ouviste falar do
gato de Schrödinger?
–
Não, no prédio todo só nós é que temos gato…
Estou a brincar, acaba lá!
–
Foi uma coisa que o Schrödinger disse e de que o
Einstein também falou, coisas de física
quântica.
Pschh… Física não sei quê… Canja…! E a Inês, nem
pio!
–
Tem a ver com o que eu disse há bocado. Assim,
muito esquemático: não há possibilidade de saber
tudo o que se passou no Universo até chegarmos
ao momento em que nos encontramos. O que virá a
seguir poderá depender de algo que desconhecemos
totalmente, do efeito do movimento de uma
simples partícula subatómica. Se tivermos uma
caixa lacrada com um gato lá dentro, dizia o
Schrödinger, quando a abrirmos ele poderá morrer
ou continuar vivo mediante o jogo de partículas
que estiver a decorrer. Só conseguiremos
sabê-lo, porém, se a abrirmos – ou seja, nunca
saberemos antecipadamente o que acontecerá
porque não possuímos o conhecimento total do que
aconteceu até hoje no Universo. E o que nos
parece mais estranho, além disso, é sermos
obrigados a concluir – se continuarmos a pensar
nesta linha, mas agora não te vou massacrar com
isso… – que no sistema geral, num determinado
momento, o gato estará vivo e morto ao mesmo
tempo.
Han?! Acho que… estes gajos são todos malucos!
E…
– E
agora digo eu o que estava a pensar antes de tu
chegares: no que toca à História, à explicação e
à previsão de acontecimentos e também às viagens
no tempo e tudo isso, a coisa ainda se torna
mais complicada do que o que se diz. Não é só
por as acções humanas serem grandemente
imprevisíveis e não sabermos qual será a unidade
final para que a História caminha, nem porque
não temos o conhecimento de tudo o que se passou
até agora, mas porque os sistemas que criamos
para encontrar relações de causa-efeito entre os
factos – aquilo que estabelecemos como factos –
são ainda mais arbitrários do que em Física.
Pois… Ora pois… Finge que percebes, Pedro.
– Poderá
haver cadeias de causa-efeito entre
acontecimentos que consideramos irrelevantes,
como seria o caso da ligação momentânea entre o
piscar meu olho esquerdo e o movimento da pata
do Sebastião, ou outros simples pormenores, que
desconhecemos nem poderemos vir a conhecer, a
gerarem efeitos que não imaginamos. Ou mesmo com
os meses, os dias, as horas, os minutos, a
configuração astral do momento… Talvez na
astrologia também haja coisas desse tipo,
incompletas como as outras, mas com que os
astrólogos até acertam de vez em quando…
Inês, Inês…! Onde te meteste tu, mulher…?!
– E
agora imagina a complicação que vem aí quando
começamos a pensar em estabelecer metas em
viagens ao passado e ao futuro, gatos mortos,
gatos vivos… que período ou momento anterior é
que se liga, de facto, a outro, actual ou não…
Se é que alguma vez as conseguiremos fazer… Isto
supondo…
–
Pedro, a sopa está quente!
Aaah! O que teria ela andado a fazer, para
demorar tanto?!
–
Agora vou comer a sopa. Amanhã falas-me do
resto.
Mas
não podia ir-se embora sem dar um ar da sua
graça, senão o que é que o rapaz havia de pensar
do pai que tinha?
–
Olha, filho… eu entendo pouco disso de que me
estiveste a falar. E – saiu-lhe uma
gargalhadinha bem-disposta – não sei se o
Sebastião teve a ver com o 25 de Abril, que ele
apareceu aqui, vindo sabe-se lá de onde, do
nevoeiro que fazia na quarta-feira, 24, ao fim
da noite, … o 25 de Abril foi numa quinta. Mas
digo-te, se não fosse aquele gato assanhar-se e
atirar-se aos olhos do teu bisavô no dia 7 de
Janeiro de 1903, parece que também era uma
quarta-feira, dizia a tua avó Maria que tinha
boa memória para essas coisas, a nossa vida hoje
não era a mesma. De certezinha. Assim, com o pai
cego, sem poder trabalhar, o teu avô António,
aos catorze anos, foi obrigado a desenrascar-se
para ajudar ao sustento da família e nunca mais
pôde pensar na universidade. Depois casou-se,
nasci eu, depois o teu tio… Mas com a cabeça
dele, hás-de lembrar-te, já tinhas dez anos
quando morreu, chegava a primeiro-ministro. Ai,
aposto que chegava! E tivesse ele ido para o
governo que este país nunca haveria de precisar
do 25 de Abril, isso te garanto – malandro
fascista do Rolão Preto (1)
mais dos seus Camisas Azuis! Podes crer! Um
grande homem, mesmo nunca o tendo sido, o teu
avô, o António de Oliveira Salazar.
(1)
Francisco de Barcelos Rolão Preto (12
de Fevereiro 1893 – 18 de Dezembro de
1977),
foi um dos fundadores do Integralismo
Lusitano e líder dos
Nacionais-Sindicalistas (Camisas Azuis),
movimento proibido por Salazar, em 1934,
por imitar o fascismo italiano. Exilado,
o seu pensamento evolui para concepções
democráticas, colabora na campanha
presidencial de Humberto Delgado e, após
o 25 de Abril de 1974, preside ao PPM. É
condecorado por Mário Soares, a título
póstumo, com a Grã-Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique.
Existem outras histórias, porém, talvez
mais credíveis, segundo as quais Rolão
Preto teria chefiado um golpe de Estado
que depôs o general Gomes da Costa em 25
de Novembro de 1926, assumindo depois um
papel semelhante ao de Franco, em
Espanha. Foi deposto pelo MFA em 25 de
Abril de 1974 e exilou-se no Chile, onde
faleceu três anos depois.
|
 |
|
Talvez 18
–
Lembrar-se-á Afonso de que faz nesta
quarta-feira, 7 de Janeiro de 1355, trinta anos
que subiu ao trono?
– É
verdade, seu pai, El-Rei Dinis, morreu a 7 de
Janeiro de 1325.
–
Julgais que será um mau presságio, que virá a
pender no futuro alguma maldição sobre a Casa
Real pelo que fizemos, matando a galega?
–
Não, ela era um perigo para o reino, a aleivosa.
–
Alguém nos terá visto, além dos filhos?
–
Não, nem o gato dela deu por nada. Ao sairmos,
brincava ele no jardim, arrastando o estilete
com que Inês intentava ferir Pêro Coelho para
debaixo de um arbusto. Deixei de o ver depois.
– Se
ela de tal modo enfeitiçou Pedro, não me
espantaria que fizesse outros bruxedos.
Deveríamos, talvez, ter morto também o gato.
– Os
gatos das bruxas, todos o sabem, são negros.
Aquele tinha o pelo claro. Não temais, amigos.
Nenhum mal virá nem para a Coroa nem para nós.
Pedro curar-se-á desta paixão funesta e, quando
cair em si, sei que ainda nos agradecerá. Seu
avô é que jamais nos perdoaria. Porque, para
Dinis, quanto mais valia o amor que qualquer
reino!
|
 |
|
Talvez 19
– Ó
Zé! Zé, chega-t’ aqui! O qu’é qu’aconteceu? O
rei desceu do aut’móvel amparad’ p’lo
c’mandante, que vinha c’ um ar aflito, entrou
tod’ curvado… vocês atrás, com cara de caso…
tud’ caladinho… o Matias, mais encaralhado qu’eu
sei lá… o qu’é qu’houve?
– O
qu’é qu’houve…? Uma ganda merda, foi o que foi…
–
‘Tão…?
–
Sabes qu’a gente fomos escoltar o rei até ó
Schor da Pedra, p’ra ele ir encontrar-se c’a
Madre que foi ama del’ ó não sei quê…
– Cá
p’ra mim, iss’ traz água no bic’. Tu achas qu’o
rei e a velha…
–
Schhh…! Olha qu’aqui ‘té os corvos dão ao
badalo, carago! ‘Inda arranjas um trinta e um…
– …
–
‘Tão foi assim: a gente chegámos lá eram q’ase
cinco da manhã, porqu’ havia coisas p’r’ó rei
resolver antes, d’pois ach’ qu’ el’ teve ‘ma
d’scussão c’ àmaricana e não sei quê… A coitada
da m’lher parece que ‘tava à ‘spera dele há que
séc’los, desde o fim da tarde d’ontem, ouvi
d’zer. Bom, havia ‘ma névoa do catano ao pé d’
mar, aquilo fica ali no r’chedo à borda d’água.
O c’mandante mandou montar guard’ à volta da
igreja e o rei s’biu. Voltou eram p’r’aí umas
sete, junto c’a freira, e q’and’ tinham descido,
já ‘tavam no patamar cá de baixo, a
despedirem-se, sai-nos um gajo, ninguém sab’
donde, d’reito a eles, de braços no ar, c’um
p’nhal pequen’ na mão, a gritar q’alquer coisa,
rei, rei… A m’lher dá um grito, o c’mandante
corre, mas ela é mais rápida, atira-s’ ó homem,
o cabrão continu’ ós berros sem se perceber
nada, o rei mete-se, enrolam-se os três, e o
mânfio fica-se ali porqu’ a freira agarrou-lh’ o
pulso e, naquela conf’são, o p’nhal virou-se
p’r’ó lad’ dele e enterrou-se-lhe no peito. A
gente ‘tava d’armas aperradas, mas pouc’
conseguia ver p’r causa d’ nevoeiro e ficámos
com medo de d’sparar, o c’mandante nem tinha
tido tempo p’ra fazer nada, qu’aquil’ passou-se
tud’ muit’ depressa… ‘Tão na’ é qu’ vem um gato
a c’rrer – ouve bem, um gato! – e bate nas
pernas do Matias?! El’ ‘tav’ à toa, c’o susto
carrega no gatilho e sem qu’rer dá cabo da
Madre. Pum! Mem’ na cabeça…! O rei desmaiou
q’and’ percebeu qu’ela tinha m’rrido, o
c’mandante meteu-o no carro a mais o corpo,
passámos p’lo mosteiro p’r’á deixar lá, as
freiras tud’ a chorar… E pront’… O gajo ficou
estendido à frente das escadas, daqui a bocado
manda-se uma patrulha p’r’ó ir b’scar, pod’ ser
qu’alguém saiba quem el’ era…
–
Hiii… O Matias ‘tá f’dido…
– Um
gato, vê tu!, um gato… vindo do nada…
|
 |
|
Talvez 20
–
Alto! Quem vem lá?
–
Schhh, cala-te! Somos nós, o cabo Sousa e o cabo
Semedo.
–
Desculpe, não os tinha reconhecido.
–
‘Tás de atalaia, cumpres o teu dever. Sabes do
cabo Valente?
–
Julgo que ‘teja por ali, do outro lado daquelas
tendas. Quer que mande alguém chamá-lo?
–
Não, a gente vai à procura dele.
Os
dois militares enterram as botas quase até ao
cano a cada passo dado no imenso lamaçal em que
tudo se tornou após a chuvada da noite anterior.
É meio-dia e, devido ao nevoeiro cerrado que
caiu pela madrugada, às nove a prudência dos
oficiais decidiu suspender o avanço das tropas e
estacionar temporariamente naquele ponto, não vá
o inimigo, mais conhecedor do terreno,
aproveitar-se da vantagem para fazer um ataque
de surpresa. A informação sobre a localização
das colunas monárquicas é escassa, há que
reforçar as precauções e a vigilância.
O
sítio escolhido, junto à costa, entre dois
armazéns agrícolas abandonados e a ameaçarem
ruína, torna-se ideal tanto para a defesa da
posição como para um contra-ataque eficaz a
partir da armadilha que montaram. As tendas
foram armadas e colocadas entre os edifícios,
mas apenas um terço dos soldados se encontra
nelas. Os restantes dividem-se por igual entre
os armazéns, mais abrigados da névoa e do frio
paralisante, prontos a apanhar o inimigo pelas
costas. Os sargentos receberam ordens para que
estes evitem o mais possível o ruído e para que
todas as conversas decorram em surdina.
Sentinelas espreitam como podem do alto dos
telhados, procurando abarcar o mais longe que a
escuridão da névoa lhes permita, postam-se nas
esquinas, vigiam cada uma das frentes do
acampamento semivazio.
A
cabeça do cabo Valente vira-se ao ouvir o
chapinhar que se aproxima no meio da imobilidade
quase total em que os homens, enregelados, se
mantêm no interior das tendas. Um vulto emerge a
pouca distância. É o Sousa, direito a ele,
enrolado no capote a escorrer água, sorrindo de
orelha a orelha, com ar de quem a pregou.
–
Sousa, onde é que ‘tavas metido? E o Semedo?
Olha que o sargento Lopes andou à vossa
procura...
–
‘Tá calado! Anda cá! O Semedo já aparece… Não
vêm magalas para esta tenda, pois não? Vá,
entra!
– …?
–
Entra, digo-te eu. Pronto! Agora, vê bem o que
tenho aqui… E faz favor de falar baixinho
enquanto eu faço um lumezito com estes
bocadinhos de madeira que encontrei dentro do
armazém maior… parece que andou lá alguém a
escavar em volta da fechadura, para a tirar.
–
Mas onde foste tu buscar essa garrafa, homem?! O
que é que está lá dentro? Vinho?
– E
aqui tens o Semedo… Trouxeste tudo?
–
Tudo. Duas cebolas, alhos, azeite, louro, o
tacho, a colher de pau… mais o que a gente sabe,
lavadinho com água do mar… nem é preciso sal.
Debaixo deste capote abençoado cabe o que se
quer. O vagomestre não deu por nada, senão
tínhamos que dividir com ele.
– Oh
moços, o que é que vocês tramaram? O que trazes
tu aí, Semedo? Não me digas que é um corvo, a
carne desses bichos não se pode comer, é
fibrosa, rija como cornos.
–
Não, não é corvo nenhum… Sousa, isso é que é
despachanço, trataste do lume e já estás de roda
dos alhos…
–
Vocês descasquem-me as cebolas… toca a aviar,
não levante o nevoeiro e haja ordem de marcha.
–
Mas, entretanto, digam-me lá o que é que vos
aconteceu.
–
Foi assim: depois de isto estar tudo orientado,
a gente decidiu desenfiar-se sem dar cavaco a
ninguém e ir espreitar mais acima. Avançámos
devagarinho junto à praia, e fomos dar a uma
igreja esquisita que fica aqui a quilómetro e
meio, dois quilómetros… É uma que fizeram em
cima de um rochedo – vá, tudo para dentro do
tacho, o azeite, dá cá a colher de pau… – à
beira da água. Não me lembro de alguma vez ter
visto uma igreja num sítio daqueles, deve
fartar-se de levar com o mar em cima, mas
mantém-se ali bem conservada não sei como. Nem
me lembro também de nenhuma com seis lados, como
aquela. Para o caso de estarem lá os cabrões dos
monárquicos a fazerem-nos uma espera, demos a
volta por dentro de água… ainda molhámos um
bocado as calças. Não estavam, mas passou-se
qualquer coisa por aquelas bandas porque, no
patamar da frente, encontrámos um gajo morto,
com um punhal pequeno espetado no coração.
Subimos a escadaria – já chia, já chia, já se
sente o cheirinho, fechem mais a tenda senão
corre para aqui o regimento todo… tudo não,
senão sufocamos com o fumo – e passámos a parte
de fora a pente fino. Nem viv’alma. Vínhamo-nos
embora, íamos a descer as escadas, diz assim o
Semedo: “E se houver lá dentro alguma coisa que
nos dê jeito?”. “Vamos a isso”, respondi eu. A
porta estava fechada, mas tantos pontapés lhe
demos – deixa cá mexer um bocadinho… – que
acabou por abrir. Entrámos, aquilo é pequenino,
só dourados, andámos a espreitar e o que é que
descobrimos? A garrafinha do vinho da missa.
Vinho do bom, que os sacanas dos padrecas
tratam-se bem. E se é vinho abençoado, ainda
melhor, que a gente bem precisa – mais umas
voltinhas, para não pegar… – de um milagre para
se ir aguentando nesta puta desta vida. Vá,
refogado pronto, vem o bicho, partidinho,
embrulhadinho numas folhinhas da Bíblia que
estavam ao lado da garrafa. Tudo santificado,
não há pecado que nos entre depois... Ora bem,
tacho com ele…
–
Mas, afinal de contas, o que é que trouxeram
para comermos? Contem-me lá o resto da história,
sempre quero ver o que sai daí.
–
Espera aí, que – agora deita-se o vinho… mais ou
menos dois copos… o resto fica para acompanhar o
petisco… – já ouves o que veio a seguir. Quando
voltamos a sair, o que é que a gente apanha pela
frente? Um gato, um gato em cima do peito do
tipo estendido no patamar. Aquilo meteu nojo ali
ao Semedo…
–
Pois meteu, não sei porquê… pronto, meteu. Se
calhar era o dono dele… Mas sabe-se lá o que ele
lhe faria quando a gente se fosse embora?
Enxotei-o. E não é que o bicho se assanha e me
trepa pelas pernas, até as partes me arranhou…?!
Eu grito, o diabo larga-me e corre para dentro
da igreja, passou-me uma coisa pela vista, vou
atrás dele, ponho a espingarda à cara, taaaruz!
O tiro dentro da igreja… até o Cristo quis
despregar as mãos para tapar os ouvidos, com o
cagaçal.
–
Fugimos logo, não tivesse alguém ouvido o
estrondo. Corremos uns duzentos metros, não se
via nem se ouvia ninguém, abrandamos, e digo eu
ao Semedo: “Lá na minha terra, o dono da tasca
onde costumo parar faz um coelho que nem parece
que é gato…”. E responde-me ele assim: “Hoh…! Na
minha, o pessoal farta-se de lhes dar destino. É
cá um petisco que manda ventarolas… Os donos são
capazes de desconfiar de quem seja, mas como não
podem provar nada… E queres ouvir esta?... Uma
vez apanhámos o de um tipo que alinhava com a
gente de longe a longe, e fomos convidá-lo para
o comer.”. “Não acredito…! Disseram-lhe de quem
era o gato…?!”. E o Semedo: “Nessa altura, já
ele tinha feito marchar uma perna!”. “E o
homem…?”, perguntei. E este macaco: “Começa a
barafustar com a malta, mas a certa altura pára
e resmunga: Seus filhos de um cabaz de cornos!
Já que fui eu que o criei, não comem nem mais um
bocadinho, quem o come todo sou eu!”. Começamos
os dois a rir, eu paro e digo-lhe: “E aquele,
vamos deixá-lo ali?”. Voltámos a correr a ir
buscá-lo, fomos à praia esfolá-lo e lavá-lo…
pronto! sempre ajuda a variar da merda que se
come na tropa. E da larica que a gente anda a
passar desde há uma semana, que até a merda é
pouca. Ou não queres comê-lo…? Valente, nunca
comeste gato?
–
Bem, na minha terra também houve quem me
convidasse, mas eu, por acaso, não…
–
Então chegou a altura de experimentares. Cheira
bem ou não cheira, confessa lá, hmm…? Gato ou
coelho, a diferença é nenhuma, acredita em mim.
E temos que convidar o Garção. Mas só lhe
contamos o que era daqui a uns dias. Onde é que
ele pára, sabes?
– Há
bocadinho, estava metido numa tenda, a terceira
do lado esquerdo desta, onde estamos. Sozinho.
–
Sozinho? Isso faz-lhe mal, o tipo é dos
matutas... Semedo, vai buscá-lo!... Agora que
ele saiu, enquanto chegam e não chegam e a
comida acaba de se fazer, diz-me tu que o
conheces melhor do que eu: o que é se passa
naquela cabeça? Noto-o esquisito…
–
Desde Chaves… Sabias que foi o Garção quem pôs a
bandeira republicana na unidade onde prestava
serviço, em Portalegre? Acho que a primeira no
país todo…
–
Não, não sabia disso… Conta lá.
–
Pois… Uma grande parte do pessoal do quartel
estava pela revolução. O Garção só tinha dezoito
anos, era vagomestre, cabia-lhe hastear a
bandeira todos os dias. Os do lado do rei não
suspeitavam dele, por isso meteu a bandeira da
república que os camaradas lhe deram debaixo do
blusão e trocou a monárquica pela nova. Durante
muito tempo, sentiu-se um bocado herói, como é
natural… embora nunca o mostrasse, é o feitio
dele… Mas ‘tás a ver, um miúdo a fazer aquilo,
as palmadas nas costas, as moças a derreterem-se
quando o viam… vinha aí o mundo novo e tal, e
ele estava na frente para o receber e para
ajudar.
– Já
entendi tudo. Agora, percebeu que afinal não é
nenhum mundo novo, que é o mesmo circo, mas
ainda com mais palhaços a quererem pôr-nos às
ordens deles e, se isso lhes der jeito, a
mandarem-nos para o outro mundo com as
palhaçadas que fazem. Ná!, pode ser que me
engane, mas isto assim não dura muito, não
demora a haver trampa da grossa. E o maralhal
que se cuide se estiver à espera de melhor, que
os que vierem depois vão aproveitar-se do que
estes fizeram para impor o que lhes convier, com
a desculpa de só assim poderem salvar a Pátria.
Tu, que és mais íntimo do Garção, vê se lhe
metes na cabeça que tem é que tratar de se
safar, de viver a sua vida e deixar as histórias
da carochinha que esta cambada inventa todos os
dias entrarem-lhe por um ouvido e saírem-lhe
pelo outro. É que isto adeus mundo, cada vez a
pior, como já dizia o meu avô.
–
Não sei se isso será bem…
– É,
é… Neste país, toda a gente anda a querer
enganar os outros, a dizer mal seja de quem for
por tudo e por nada… A sério, a sério, acho que
isto que sempre foi assim e, desta maneira,
nunca se pode ir a lado nenhum… Mas cala-te,
eles vêm aí. Garção, anda comer o petisquinho
que a gente arranjou!
O
cabo Garção agradece. Senta-se num dos bancos e
vai entrando aos poucos na conversa segredada.
Sabe que está a precisar de convívio, que não é
bom isolar-se como tem feito ultimamente, que
não pode fraquejar, que a vida é mais do que
isto nem será isto para sempre… O vinho é
excelente, o Semedo disse-lhe que o trouxeram de
uma casa onde não havia ninguém. Com o canivete,
corta um pedaço de pão e retira do tacho uma
perna do coelho apanhado pelos camaradas junto à
estrada, morto por um pequeno estilhaço. Não
está mau, não senhor, bons amigos, podiam ter
ficado calados, não o convidarem.
Aos
poucos, vai-se apercebendo de um sabor mais doce
do que é costume. Será dos temperos, do vinho…?
Uma suspeita desperta quando se recorda de lhe
terem dito que o gato se distingue do coelho por
não sei quê nas articulações e pelo sabor
adocicado. Olha para o osso quase esburgado, a
seguir para os amigos a falarem e a rirem
baixinho, numa animação, o Valente que o encara
de vez em quando com um ar meio comprometido…
hesita.
Súbita, alegre, quente, a ternura irrompe, a
inundar-lhe o peito. Amigos.
Sorri.
Recomeça a mastigar.
Mais
uma com que fica para contar aos netos.
|
 |
|
Talvez 21
– Manuel (1), que tu as
bien fait quand tu as laissé le trône à ton
oncle Afonso de Bragança. Il a fait un très bon
roi… Les républicains ont perdu leurs arguments
pour faire la révolution. Et nous avons pu nous
marier et venir à Marseille. Maintenant la
guerre est terminée et tout va bien. Nous
pouvons continuer à nous aimer. Sans cesse…
– Gaby…?
– Oui…
– Tu sais que tu as parlé hier,
pendant que tu dormais… ?
– Et alors…
– Qui est ce Pedro avec qui tu
parlais si doucement?
– Je te le dirais quand tu me
diras qui est Mariana, celle qui tu embrassais
si doucement aussi quand tu dormais le mercredi
dernier…
– Mariana… ?
– Oui mon chéri.
– Je préfère t’expliquer plus
tard…
– Et moi aussi, je te parlerai
plus tard de Pedro. Mon amour, tu sais comme
j’abomine la jalousie puis je crois qu’il n y as
pas d’amour sans liberté, que nous ne devons
jamais cacher nos sentiments e nos impulses
amoureux. Je t’ai déjà proposé le ménage avec
Mary Pickford, tu l’aimes n’est-ce pas?
Laisse-moi la connaître, ta Mariana. Est-ce
qu’elle est jolie ? Où est-ce que tu l’as connu?
Si on peut faire le Paradis dans la terre…
alors, faisons-le. Et notre chat lui aussi, il
sera là avec nous. Est-ce que tu l’as vu déjà ce
soir, notre chat?
– Non, je ne l’ai pas vu… Où sera-t-il ?
– Mais regarde, il s’est caché au coin de la sale tout près de la lampe.
Nous sommes en plein été, il va étouffer là,
sous l’abat-jour… Oh viens ici mon poète, mon
petit roi, mon Denis…!
(1) – Manuel, fizeste tu muito bem em entregares o trono ao teu tio, Afonso
de Bragança! Deu um óptimo rei… Os
republicanos ficaram sem argumentos para
fazerem a revolução. E nós pudemos
casar-nos e vir viver para Marselha.
Agora que a guerra terminou, tudo voltou
a estar bem. Podemos continuar a
amar-nos. Incessantemente…
– Gaby…?
– Sim…
– Sabes
que falaste ontem, enquanto dormias…?
– E
então…
– Quem é
o Pedro a quem te dirigias com tanta
doçura?
–
Dir-to-ei quando me disseres quem é
Mariana que também beijavas tão
docemente na última quarta-feira,
enquanto dormias…
–
Mariana… ?
–
Sim, meu querido.
– Prefiro
explicar-to mais tarde…
– E
também eu te falarei de Pedro mais
tarde. Meu amor, tu sabes como me
repugna o ciúme, que para mim não existe
amor sem liberdade e que jamais devemos
reprimir os nossos sentimentos e
impulsos amorosos. Já te propus vivermos
com a Mary Pickford, tu gostas dela, não
é? Deixa-me conhecer a tua Mariana. É
bonita? Onde é que a encontraste ? Se se
pode fazer Paraíso na Terra, por que
esperamos? E o nosso gato também há-de
lá estar connosco…. Já o viste, esta
noite?
– Não,
não o vi… Onde se terá metido?
– Olha
bem, escondeu-se ao canto da sala, junto
do candeeiro. Estamos em pleno Verão,
vai sufocar ali, debaixo do abajur…! Oh,
anda cá meu poeta, meu reizinho, meu
Dinis..!
|
 |
|
Talvez 22
– Il
(1)
me semble
toujours avoir chez moi un petit sorcier, avec
ses grands yeux. Il m’inquiète vraiment, je vous
assure. Comme si un mauvais esprit me menaçait
tout le temps. Mais il m’est quand-même utile,
il explore partout, il chasse des souris, je ne
peux du tout me séparer de lui. Je vous demande
de l’apporter ce soir à la nouvelle maison que
j’ai loué, s’il vous plaît.
– Bien sûr. À vos ordres, monsieur Descartes.
(1) – Parece-me sempre ter em casa um
mago pequenino, de grandes olhos. Não
sei porquê, tal deixa-me inquieto, como
se estivesse constantemente sob ameaça
de um espírito malévolo. Mas afinal não
posso prescindir dele, é-me bastante
útil, mete-se por todos os buracos, dá
caça aos ratos. Peço-vos o favor de
também o levardes esta noite para a nova
casa que aluguei.– Certamente. Às vossas ordens, senhor
Descartes.
|
 |
|
NOTA FINAL
Suponho que o Tempo considere esta História como
fictícia, embora, segundo a história que me
contaram, D. Manuel II, D. Amélia, Gaby Deslys,
Teresa de Saldanha, Eça de Queiroz, Oliveira
Martins, Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, Antero
de Quental, Viriato, Afonso Henriques, Rolão
Preto, a irmã Marcelina Viana, Einstein,
Schrödinger, Pêro Coelho, Maria Mendes Petite,
Estêvão Coelho, o padre O’Daly, D. Dinis, D.
Afonso IV, Inês de Castro, D. Pedro I, Hegel e o
próprio Descartes hajam mesmo existido. O mesmo
não poderei dizer de António de Oliveira
Salazar, porque seria mau demais para ser
verdade.
Verdadeiros, verdadeiros, assim de carne e osso,
foram, para começar, o cabo Garção e o cabo
Valente. Da História de João Martinho Garção,
incluí os episódios da batalha de Chaves e do
hasteamento da bandeira republicana no quartel
de Portalegre, que me foram relatados pelo seu
filho e meu irmão-do-peito, o poeta Nicolau
Saião, a quem muito agradeço. Da de António
Lúcio Aguião Valente, meu tio-avô e mais avô do
que tio, só posso dizer que esteve em França na
I Guerra Mundial (não sei se integrado no CEP ou
se no CAPI), que terminou a carreira no posto de
capitão da Arma de Artilharia e que foi o
instrutor militar de Otelo Saraiva de Carvalho.
Não me lembro de o ouvir falar sobre a Monarquia
do Norte e, portanto, não sei o que ele fazia ou
não fazia à época. Mas gostei muito de o ter ao
lado enquanto escrevia, a rir-se e a chamar-me
aldrabão.
O
tio Artur e a tia Anastácia eram meus vizinhos e
tios de um companheiro de infância. Não tinham
nada de seu, mas ficaram com uma boa parte do
meu afecto e, por isso, não podia deixar de lhes
dar um lugar de honra.
Verdadeira também, de pedra e cal sobre o
rochedo à borda d’água, a Igreja do Senhor da
Pedra, em Gulpilhares.
Finalmente, o gato – que julgo não fazer parte
da História de Descartes. Apareceu por aqui num
dia de sol vindo de algures, percorreu toda a
casa em passo inquieto e apressado, saltou
casualmente para junto de mim, olhou-me e
deitou-se de imediato ao meu lado. Não me senti
capaz de o mandar embora, porque nenhum dos dois
duvidou de que passara a fazer parte das
Histórias do outro.
Ainda cá está.
Não
é mau tipo.
|
| |
| |
| |
| |
|
|