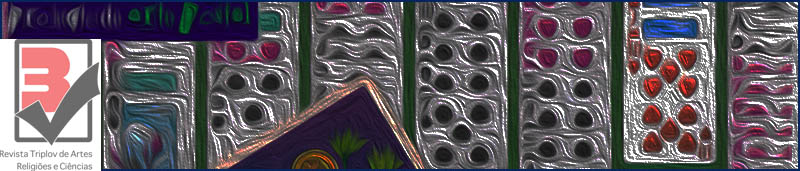|
1.
Em
Uma voz
bem nossa, prefácio que escrevi em Setembro
de 1985 para
Ciclo do
Amanhecer, que assinalou a estreia em livro
do poeta Cristino Cortes, pude destacar dois
traços que se me tinham imposto como mais
presentes e promissores na nova voz poética que
então se tornava pública: desde logo, o lirismo,
conjugado em todos os seus cambiantes de “amor à
portuguesa”, a par de uma outra nota, a da
imersão desses sortilégios no mais raso
quotidiano, um quotidiano em que o poeta e o
homem circulam, e em que ambos se entregam ainda
à ironia e ao humor; ao humor, sublinhe-se, pois
Cristino Cortes não desfere as suas farpas de
qualquer torre de marfim e não poucas vezes
abandona, com humildade, a sua própria seriedade
e importância. Sem pompas fanáticas, só fica,
assim, mais perto de quem o escuta.
É, precisamente, esta
imersão no quotidiano que nos propomos agora
surpreender nas suas manifestações e
consequências porventura menos aparentes, para o
que desdobraremos dois fios do emaranhado novelo
de motivos presentes na obra de Cortes: o fio
que tem a ver com um certo regime do olhar, e o
outro, que nos remete para o dandismo, traço
comum, é essa a nossa tese, à maioria dos
artistas e dos criadores em geral, de que poetas
e artistas plásticos serão o mais excelso
florão; traço comum, mas
sui
generis nas sua manifestações
individualizadas, o que forçosamente decorre da
definição mesma de dândi.
Diz-nos Jürgen
Habermas, num ensaio famoso, ter sido no domínio
da estética que pela primeira vez se tomou
consciência do problema da fundamentação da
modernidade a partir de si mesma. O
distanciamento do modelo da arte antiga
iniciara-se, no século XVIII, com a célebre
Querelle
des anciens et des modernes. Os modernos
põem em questão o sentido de imitação dos
modelos antigos e, em contraposição às normas de
uma beleza absoluta, aparentemente supra
temporal, salientam os critérios do belo
relativo ou condicionado temporalmente. A
palavra substantivada, “modernidade”, só
apareceria mais tarde, em meados do século XIX,
e ainda no domínio das belas-artes. Modernidade
conserva, assim, até hoje, um núcleo de
significado estético marcado pela maneira como a
arte de vanguarda se vê a si própria (Habermas,
2002, pp.13-14).
Para Baudelaire, esse
exemplar “pintor da vida moderna”, a experiência
estética
confundia-se com a experiência
histórica
da modernidade. A obra de arte moderna ocupa
um lugar notável, em seu entender, na
intersecção do eixo entre actualidade e
eternidade: “ A modernidade é o transitório, o
efémero, o contingente, é a metade da arte,
sendo a outra o eterno e o imutável”, como ele
diz (Habermas, 2002,p.14). O presente já se não
pode conceber em oposição a uma época
ultrapassada, a uma
figura
do passado. A actualidade só se poderá
constituir como o ponto de intersecção entre o
tempo e a eternidade. Contacto sem mediação que
salvará a modernidade da trivialidade.
E para que a modernidade seja digna de
tornar-se antiguidade – ainda segundo Baudelaire
(e Habermas) – é necessário que dela se extraia
a beleza misteriosa que a vida humana
involuntariamente lhe confere (Habermas,
2002,p.15). Partindo do resultado da célebre
querela, Baudelaire desloca, segundo Habermas,
de maneira característica, o peso do belo
absoluto e do belo relativo: “O belo é
constituído por um elemento eterno, invariável…
e por um elemento relativo, circunstancial, que
será…sucessiva ou combinadamente, a época, a
moda, a moral, a paixão. Sem este segundo, que é
como o invólucro aprazível, palpitante,
aperitivo do divino manjar, o primeiro elemento
seria indigesto, inapreciável, não adaptado e
não apropriado à natureza humana” (Habermas,
2002,p.15). Enquanto crítico de arte, não
admira, pois, que Baudelaire sublinhe, na
pintura moderna, o aspecto “da beleza fugaz e
passageira da vida presente, do carácter daquilo
que o leitor nos permitiu chamar “Modernidade”.
Palavra que ele grafa entre aspas, consciente do
novo uso, terminologicamente peculiar, desse
termo. A obra autêntica está radicalmente presa
ao instante do seu surgimento; precisamente
porque se consome na actualidade, ela pode deter
o fluxo constante das trivialidades, romper a
normalidade e satisfazer o anseio imortal de
beleza durante o momento de uma ligação do
eterno com o actual. A beleza eterna revela-se
apenas sob o disfarce dos costumes de época
(Habermas, 2002, pp.15-16). O carácter de
actualidade justifica também uma nova afinidade
da arte com a moda, o novo, e com o ponto de
vista do ocioso, do génio assim como da criança,
que não dispõem da protecção constituída por
formas de percepção convencionais e por isso são
abandonados sem defesa aos ataques da beleza e
dos estímulos transcendentes, ocultos naquilo
que há de mais quotidiano (Habermas, 2002,
p.16). Já não estará longe o dândi e/ou o
flâneur,
aquele que passeia sem pressas,
abandonando-se à impressão do momento. Segundo
Baudelaire, apropriadamente citado por Habermas,
cabe a este dândi buscar “esse algo, ao qual se
permitirá chamar de Modernidade; pois não me
ocorre melhor palavra para exprimir a ideia em
questão. Trata-se, para ele, de tirar da moda o
que esta pode conter de poético no histórico, de
extrair o eterno do transitório” (Habermas,
2002,p.16).
Quanto ao
dândi, impõe-se aqui uma explicação. É que há
dândis e dândis, mesmo que seja impossível
imaginar um dândi confinado ao seu aposento, um
dândi sozinho. Desembarcado numa ilha deserta,
ele morreria de tédio antes de morrer de fome,
como nos diz Clément Rosset (Rosset, 2013,
p.239). Há, por outro lado, dândis superficiais
e fátuos, e outros que tiram um sentido mais
substancial das disposições comuns a todo o
dandismo. O dândi
déclassé,
ao contrário do dândi de raça, procura
sobretudo chamar a atenção e ganhar os favores
da opinião, (género Cocteau, ou Bernard
Henri-Lévy, segundo Rosset). O dândi de raça,
esse (género Óscar Wilde) faz ponto de honra em
não dar a mínima importância àqueles propósitos.
Antes faz gala em não se exibir, em permanecer
impassível e parecer ignorar o seu talento, o
que seria o caso de Delacroix, no entender de
Baudelaire (Rosset, 2013, pp.240-241).
Diz-nos
Camille Paglia que Théophile Gautier, mestre de
Baudelaire, para se defender de um mundo que
colapsara num montão de objectos, inventou o
esteticismo como modo de controlo perceptivo,
ritualizando a relação olho-objecto. Uma
distância estética fixa corta pela base o efeito
destruidor do influxo dos fenómenos. Tudo nele,
do sexual ao metafísico, é estruturado pela
arte. O estilo Decadente, ao congelar o mundo em
imagens, visa propiciar o olhar pagão (Paglia,
1991, pp.420-421). Baudelaire, seguindo estas
pisadas, apresentaria, num texto em prosa,
O Pintor
da Vida Moderna (1863), uma teoria da
persona
masculina ideal. Na linha de um ensaio de Barbey
d’Aurevilly (1845), faz do dândi o exemplo ideal
do estilo pessoal e qualifica de dandismo um
“culto do eu” romântico, que surge da
necessidade ardente de criar uma originalidade
pessoal.
Baudelaire era
amigo de Édouard Manet, outro artista radical.
Também para ele a arte deveria interpelar a vida
moderna. Recusando o ensino académico, estudou
com um grande pintor de salão, Thomas Couture,
com quem não tardaria a entrar em choque. Conta
Camille Paglia, a quem parafrasearemos nos
próximos desenvolvimentos, que numa discussão
acesa com um modelo de nu masculino que fazia
poses clássicas no estúdio de Couture, Manet
terá dito: “Não estamos em Roma, e não queremos
lá ir. Estamos em Paris – deixemo-nos estar
aqui” (Paglia,
2012, p. 91). O realismo, então um movimento
subversivo a que Manet pertencia, provoca
escândalo, o que aconteceu com quadros dele,
hoje tão célebres como
Le
Déjeuner sur l´herbe ou
Olympia.
A fotografia, inventada em finais dos anos
30 e que não parava de evoluir, intrigava Manet
e Degas. Os dois pintores reproduzem muitas
vezes o ar confuso e casual de fotografias
ingénuas, com figuras seccionadas nas
extremidades das suas telas. No entanto, se de
início a fotografia pareceu ameaçar os artistas,
em especial os retratistas, o certo é que, com o
tempo, ela libertou a pintura da obrigação de
reproduzir o mundo físico tal como ele se
oferece aos olhos. Manet, se admirava a rapidez
(o à la
minute) e a sinceridade da fotografia, não
apreciava o seu literalismo (carácter prosaico,
não imaginativo). Daí, por certo, a distorção
sistemática típica das suas obras: espaço com
pouca profundidade, violando a canónica ilusão
desta que o Renascimento impusera, composição
ambígua, execução desigual.
Manet era, tal
como Baudelaire, um
flâneur
consumado, um calcorreador elegante e
espirituoso dos
boulevards da sua Paris natal, então a ser
radicalmente transformada pelo Barão Haussmann,
deitando abaixo ruelas e tugúrios medievais para
sobre eles lançar grandes avenidas e abrir
soberbas praças. Estas inovações intensificaram
o trânsito pedestre e a vida nocturna nas
novíssimas ruas iluminadas a gás. Cafés e
brasseries instalaram mesas nos passeios
alargados, convertendo em desporto a recíproca
observação de transeuntes e clientes. A
indústria do entretenimento conhece uma
explosão, ao serviço dos ócios das classes
médias e de hordas de turistas, que preferem a
cerveja ao vinho. Nova instituição era então o
café/concerto, que servia comida e bebidas
alcoólicas, e espectáculos de variedades,
durante os quais os clientes circulavam e
conversavam. Em
At the
Café, quadro de Manet de que Camille Paglia
nos oferece uma das suas exímias
close
readings, num texto com o significativo
título de
City in Motion, o pintor capta, em
flagrante, a animada mistura de classes sociais
e de personagens nesse ambiente ruidoso. Nós, os
que contemplamos o quadro, quase nos convertemos
em barman,
pois estamos postados diante de um balcão de
mármore, onde abancam, numa extremidade, uma
rapariga bisonha, com buço e sobrancelhas
hirsutas, lojista diurna vencida pelo cansaço,
flor murcha que ainda se vem oferecer para
qualquer devaneio nocturno, um triste cigarro
fumegando na mão direita, junto de uma caneca
onde a cerveja perdeu o viço; a seu lado,
indiferente, um soberbo e fino cavalheiro de
meia-idade, trajando segundo a moda mais
recente, de cartola, a mão direita pousada no
castão da bengala, contempla, com ar de
connaisseur, uma rapariga esbelta que canta
por detrás do balcão, do que só nos damos conta
pelo seu reflexo num grande espelho, no fundo da
sala. Diz-nos Camille Paglia que as linhas de
vista das figuras (elas são mais do que as que
referi) disparam como raios em cinco direcções
diferentes, sugerindo a sua desconexão
psicológica num espaço temporariamente
partilhado (Paglia, 2012, p.94).
2.
Temos agora de dar um grande pulo no tempo e no
espaço – por sobre todos os nossos dândis, como
Garrett, decerto o mais feliz em todos os
registos, como Gomes Leal, o mais infeliz de
todos; por sobre Cesário Verde, Pessoa e Mário
de Sá-Carneiro, António Patrício, Teixeira Gomes
e Fialho de Almeida, para ficarmos por aqui e
finalmente desembarcarmos na última colectânea
de Cristino Cortes. Penso que ele enfileira
nesta múltipla, luzida e internacional linhagem
de dândis – talvez com surpresa ou desconfiança
sua, dada a sua índole, que o faz “um tanto
avesso a grande exposição pública”, como se pode
ler na badana de
Poemas de Ironia e
Má-língua.
Dândi não será o
nosso poeta, decerto, pelo vestuário, mas há que
dizer em abono dele que se o vestuário ainda
era, para um Carlyle, o ingénuo brasão dos
dândis, já isso nada significava de essencial
para Barbey d’Aurevilly, e isso em 1845! Se ele
não é, assim, um dândi
déclassé,
tem de ser um dândi de raça, pois Clément
Rosset
dixit, e o que ele diz, para mim, tem muito
peso É capaz de não haver terceiro termo. Estou
convencido de que Cristino Cortes é um dândi, e
um dândi sobretudo pelo regime do olhar (e do
imaginar subsequente), regime que se foi
definindo e complexificando de obra para obra,
pela revelação progressiva das suas molas
secretas. Desde logo, é nele dominante a
obsessiva aproximação à cidade, na polaridade
campo/cidade, e nas suas metamorfoses, até hoje,
ao longo dos últimos 30 anos.
Este poeta que
desde sempre se definiu como um “Camponês
transplantado nas margens da cidade” (Cortes,
1991,
p.15) parece aceitar a ensaiada genealogia que
vos proponho, numa conversa com Cesário Verde em
que admite,
mutatis
mutandis, um múnus e um destino comuns:
“Poeta desta cidade em que vivo e arredores/Em
que diariamente passo – sem os primores/ De
frutas que a contragosto exportavas/ Por entre
as ferragens que por desfastio vendias; /Esse
físico mester/ Eu to invejo oh camarada/ Atender
o público é melhor que escrever papéis/ E a
quase clandestinidade no sopro da poesia/ Hoje
se repete e só a idade de cada um / Explica
diferenças cambiantes tonalidades/ Mas o fado é
o mesmo nada o destino mudou; / De ti me dizem
parente e é provável que sim/ Não é mais a
poesia o calmo verso que manso flui / Mas podes
crer que bem te entendo oh Cesário/ Bem te
compreendo oh amigo e mais não quisera/ Que a
perfeição das coisas que tu se não morresses/
Decerto alcançaras – mas os deuses levam cedo
/Os que amam e assim companheiro me despeço
(Cortes, 1991, pp.40, 41).
O dandismo do
vezo poético de Cristino Cortes tem, pois, a ver
com um certo olhar, com um regime do olhar,
desde sempre dominante, mas que, de obra para
obra, se torna mais consciente de si e dos seus
recursos expressivos, o que é bem sintetizado
nestas palavras da prefaciadora do volume agora
publicado, a Professora Annabela Rita: “ …o
olhar parece insinuar-se nas pregas da vida e da
memória, fazendo de ambas matéria plástica onde
a aresta aguçada se combina com a curva suave e
com a arte da fuga reflexiva…” (Cortes,
2015,pp.6 e 7).
No caso deste
moderníssimo pintor da moderna vida portuguesa é
difícil destrinçar, assim, o biográfico do que o
que sobre ele se reelabora, o vivido do que se
prolonga em viva imaginação, pelo que nos
movemos, afinal, num círculo, num vaivém, sem
ponto de repouso; circularidade que é um eterno
retorno entre o
lá fora
e a escrita, entre o
boulevard
e o estúdio, entre a
materia
prima dos poemas, colhida rente à vida no
seu acontecer desabalado, e a apetrechada
oficina poética onde esses
flashes
nos são restituídos, sem perda da surpresa e
do brilho que os fizera únicos.
O regime do
olhar a que nos vimos referindo parece ter
encontrado um ponto alto da sua definição pelo
mão do próprio poeta, num livrinho de aforismos
e breves poemetos –
EIA
Evidências, Inscrições, Aforismos –
publicado em 2013, ao cabo de 28 anos de
regularíssima produção poética. É como se o
poeta nos quisesse ofertar uma chave para
acedermos à intimidade da sua estesia poética,
um bom vade-mécum para o escutarmos e
entendermos melhor, para nosso gáudio e
desfrute. Creio que, no seu conjunto, esses
aforismos compõem a arte poética de Cristino
Cortes, arte, em última análise, assente naquele
novo regime do olhar, que o é, por extensão e
sinestesia, de todos os outros quatro sentidos.
Permitam-me que vos cite agora alguns desses
aforismos:
“Uma
fotografia pára o tempo” ;
“Se quiseres
ouvir o som da vida não faças barulho”;
“ Linguagem do
mudo: nada falar e dizer tudo.”;
“ A surpresa
aprecio e o imprevisto
À
experiência direi que não resisto.”;
“ O à vontade
das raparigas
Sempre me
gradou.”;
“ O que amo
nas colegiais
É o elas serem
assim e nada mais.”;
“Não olho para
elas
Mas para onde
elas olham.”;
“ O que está à
vista escusa candeia
- É o que se
chama ver à boleia.”;
“ Para ouvires
o mundo
Tens de te
calar.” (Cortes, 2013, pp.18,19, 25, 29, 31,
32).
3.
Este regime do olhar, na primeira secção da
colectânea agora publicada, significativamente
intitulada
Observações, passa, desde logo, pelo manter
à
distância do objecto observado, di-lo o
próprio poeta em
Musa
Preta, que decorre num autocarro em
movimento ou brevemente parado nos semáforos:
“Vista de costas, à distância, a rapariga
dir-se-ia/ Nua”. Certifica-se o poeta de que não
é bem assim, e que a epifania daquela Musa ou
Vénus em tons negros, de que ele beneficia em
pormenor, “conscientemente”, advérbio dele, lhe
seria destinada “por especial graça”, pois ele
conta-se entre os que têm a sorte de a ver,
mesmo que não saibamos se outros a viram. E o
poema fica feito, sem mais qualquer exigência: “
Que os deuses a protejam, sortudo será o homem
que a amar” (Cortes, 2015, p.17).
Prossegue o
poeta o seu “ver à boleia” em
Episódio
de Metropolitano, onde, sempre à distância,
vislumbra, de perfil, uma rapariga que parece só
ter uma perna, na outra extremidade da escada
rolante (Cortes, 2015, p.18).
Já em
Leque de
Verão – mais uma rica variação, a somar a
outras inseridas em obras anteriores de Cristino
Cortes, das camonianas voltas a mote “Descalça
vai pera a fonte/Lianor pela verdura; / Vai
fermosa, e não segura”, verdadeira obsessão de
Cortes, diga-se de passagem –, assistimos a um
refinado jogo de revelação e ocultamento,
pautado pela rapariga que manobra as lâminas do
leque, “se calhar mais experiente do que
parecia”, pois “no sugerir mora o encanto, e ela
bem o sabia/ Assim escondendo o que só de
relance nos oferecia.” Se tudo isto nos comunica
o poeta, também parece censurar-se, certamente
pela insistência do seu olhar, que chegou, pelo
menos, às alças do soutien: “Ao vê-la assim, com
a distância que as lentes já me exigem / Ao
balcão tomando um café, falando com outras
colegas… oblíquo olhar/ Era o meu, um quase
delito, estas coisas não se fazem.” (Cortes,
2015,p.26).
Em
Salvou-me
o dia, temos uma exuberante rapariga que,
por acaso, almoça ao lado do poeta, cujo riso em
cascata o delicia, embora pareça intimidar um
tanto o parceiro dela. O que, saído o par, leva
o poeta a dar-se ao luxo de “imaginar / Tal
criatividade em outros domínios: se em amar /
Ela assim fosse, em vez de um precisaria de
dois!” (Cortes, 2015,p.29).
A transição do
que se observa para o que se imagina, parece,
assim, desdobrar noutro domínio, aquele onde os
apetites procuram o seu
bonum,
o que já despontava na intensidade e minúcia
do olhar inspectivo, sempre mais constrangido
nas fronteiras da contemplação do belo.
Repare-se, a propósito, no aforismo já citado:
“Não olho para elas/ Mas para onde elas olham.”
É claro que o poeta teve de olhar para elas para
se pôr no encalço da linha do olhar das
raparigas, o que só virá reforçar, por sua vez,
o primeiro olhar que as surpreendeu, assegurando
uma captura e posse mais deliciosamente
completas do objecto olhado. A não reciprocidade
dos olhares do poeta, a certeza da impunidade do
exercício a que este se entrega dão asas
suplementares à pulsão voyeurista que o habita.
Para o fim
desta primeira secção, o poeta afirma, em
Aparências, sem margem para contestações, o
que mais parece uma justificação ou álibi para o
que ele faz: “Nem sempre mostram as mulheres a
vontade que lhes mora / Por baixo da roupa”,
actividade/ criatividade sobre a qual o poeta se
diverte a ajuizar “Na paisagem humana pelos meus
olhos desfilando…” (Cortes, 2015,p.33).
Assim se
transita para a segunda secção do livro,
Imaginações. Observar e imaginar, em voltas
e contravoltas, dão-se as mãos para vencer o
tédio e o sono que espreitam em
Tardes de
Reuniões (II): “Como seleccionar, por
exemplo, de entre todas as que aqui /Se
encontram e eu consigo ver, como seleccionar/ A
mulher mais bela (…)?” Entrega-se então o poeta,
qual Páris, que toma por modelo, a escolher a
mais bela – “Pela face, pelos brincos, decote,
sorriso, cabelo?” – delicioso embaraço da
escolha. Mas também faz uma confidência
relevante, ao informar sobre o método e sobre as
candidatas: “ O método não é interactivo, jamais
foi a poesia/ Ao menos no próprio momento em que
o poeta a escreve. / Não sabem, aliás, o quanto
a deusa da beleza lhes deve/ Nem o que eu faço
quando as olho, um tanto à revelia” (Cortes,
2015,p.42).
Tal como o
Scottie Ferguson (James Stewart) do
Vertigo,
de Hitchcock, tal como o próprio realizador,
ambos consumados dândis, o nosso poeta gosta de
ver mas não de ser visto a ver, ao mesmo tempo,
pelos objectos do seu olhar. O facto da
escolhida, para mais, não saber o resultado da
selecção, deixa-o tranquilo. Os dândis não
gostam de guerras!
Em
Eurídice,
hoje em dia parece-nos tornar-se mais
evidente ainda a ambiguidade do olhar
aparentemente auto-suficiente e distanciado.
Para o demonstrar, quiçá com laboriosidade
excessiva, tive de consultar o
Dicionário de
Mitologia
Grega e Romana, de Pierre Grimal, na
excelente tradução do Professor Victor
Jabouille. A ninfa Eurídice foi, um dia, quando
passeava com as Náiades, suas companheiras,
picada por uma serpente. Virgílio supõe que o
incidente se deu quando ela fugia de Aristeu,
que corria atrás dela para a violar. Orfeu, seu
marido, chorou a morte da esposa de tal maneira
que comoveu as divindades infernais, que o
autorizaram a trazê-la à luz do dia, com a
condição de não olhar para ela antes de haver
chegado à superfície. Eurídice seguia-o no
caminho do regresso, e estavam prestes a sair do
mundo das sombras quando Orfeu, incapaz de
resistir por mais tempo ao desejo de a voltar a
ver, se voltou para trás. Teve de regressar
sozinho à terra, pois logo uma força
irresistível arrastou de novo Eurídice para os
Infernos.
Jura o nosso
poeta que se identifica com Orfeu, mas, como
amigo, atrevo-me a dar-lhe um conselho: melhor
faria se lhe preferisse Aristeu, um potentado
filho da ninfa Cirene e de Apolo, educado, como
Aquiles, pelo centauro Quíron, versado ainda nas
artes de Calíope (poesia), perito na apicultura,
no cultivo da vinha, e nas artes da caça, que
quis aplicar a Eurídice. Por todas estas prendas
e feitos, não admira que os deuses acabassem por
indultá-lo, o que não terá acontecido a Orfeu,
que Afrodite, por ele ofendida, deixou
desmembrar pelas mulheres da Trácia. Orfeu não
teria, por outro lado, marido que era dela,
necessidade de seguir a mulher, qual
amante/voyeur eventual, como ocorre no poema de
Cristino Cortes. Afigura-se-me que as tácticas e
dispositivos laboriosamente aprestados pelo
nosso poeta para a surpresa e
captura
da ninfa apressada dos nossos
boulevards têm muito mais a ver com os
estratagemas do astuto caçador Aristeu, mais
monomaníaco, nestas coisas, como convém, do que
Orfeu. Senão vejamos: Deliberadamente se deixou
o poeta ultrapassar por ela (“de antemão o
sabia”, confessa), no seu bambolear de pantera e
ménada, para logo depois se pôr no seu encalço,
bem melhor posição para predadores, convenhamos:
“Durante um bom bocado gostosamente a segui”,
embora, prudente, logo qualifique, “enquanto /
Os nossos dois caminhos de algum modo
coincidiam.” A impressão mais forte com que se
fica é, porém, a de que estes ir na peugada e
ver à boleia têm muito a ver com a perseguição
de uma presa. “Fosse como fosse era um espanto,
e eu, siderado, / A uma prudente distância,
seguindo o seu espantar...”.
A
identificação com Orfeu, porém, tudo reconverte
em (apetecia-me escrever “meras”) revelação e
destinação poéticas, sem outras promessas de
fuga à lei da gravidade. Mas há um
regret
final do poeta, é o que me parece: “O dia
finalmente ganho… se a forma encontrasse / De,
como ela, também eu do íman do chão me
libertasse!” (Cortes, 2015,p.45). Transcurso e
conclusão estes que, irreprimivelmente, me
trazem à memória uma célebre canção de Fernando
Pessoa ortónimo, em que ele diz, na primeira
estrofe: “ Dá a surpresa de ser. /É alta, de um
louro escuro. / Faz bem só pensar em ver /Seu
corpo meio maduro.” E na última estrofe:”
“Apetece como um barco./ Tem qualquer coisa de
gomo. / Meu Deus, quando é que eu embarco? / Ó
fome, quando é que eu como?” (Pessoa, 1979,
p.147).
Tenho de
concluir. Cristino Cortes, num múnus impenitente
de mais de trinta anos de produção regular,
aprendeu, progressivamente, e só assim se
aprende, que a poesia é “una e vera”, que é
“Múltipla e variável como a própria vida”
(Cortes, 2013, p.53). Como o mar, afinal, sem
precisar de reflectir o que quer que seja.
As aparentes
gaucherie
ou imperícia de alguns versos, ou melhor, o
seu prosaísmo às vezes cru, contrastam com a
gnómica concisão e a perfeição oficinal
inultrapassável de outros. Pelo que não se trata
de imperícias. Hão-de ser outra coisa. Lembrarão
talvez, e assim teremos de voltar à lição de
Camille Paglia (Paglia, 2012,p.92), o pincel de
Manet, que prefere, à opressiva ortodoxia do
cânone oficial do bom gosto neoclássico, então
encarnado nas formas polidas e superfícies
envernizadas dos quadros de David, as pinceladas
mais rudes e aparentemente anárquicas do
seiscentista Diego Velásquez, que Manet estudara
no Louvre.
É que se o
poeta Cristino Cortes é um dândi, convém dizer
que o seu lugar de recuo e abrigo não é o polido
século XVIII, mas o século XVII, sem que devamos
esquecer o que o liga ao século anterior e a
Camões, cuja poesia lírica ele conhece, glosa e
recria na perfeição. É com este aparelho à
primeira vista mais rústico, mas talvez por isso
mais apto para captar os flagrantes da vida, que
vemos o poeta, qual Sísifo feliz, flanar pela
nossa cidade e seus ramificados arredores. Possa
ele continuar por muitos e bons anos esta missão
que o interpela e delicia, e a nós com ele, são
os meus votos, doravante na Lisboa hipermoderna
do hiperbólico turismo que a invade e compra,
mas que nos há-de salvar a todos, como nos dizem
e repetem os nossos sábios economistas e
governantes.
|