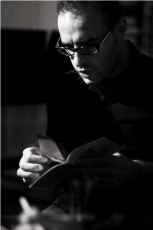|
|||||||||
REVISTA TRIPLOV
|
|||||||||
|
|||||||||
EDITOR | TRIPLOV |
|||||||||
| ISSN 2182-147X | |||||||||
| Contacto: revista@triplov.com | |||||||||
| Dir. Maria Estela Guedes | |||||||||
| Página Principal | |||||||||
| Índice de Autores | |||||||||
| Série Anterior | |||||||||
| SÍTIOS ALIADOS | |||||||||
| Revista InComunidade | |||||||||
| Apenas Livros Editora | |||||||||
| Jornal de Poesia | |||||||||
| Domador de Sonhos | |||||||||
| Agulha - Revista de Cultura | |||||||||
|
“Gosto de construir Universos que depois se
desfazem. |
|||||||||
|
Philip K. Dick, escritor norte-americano,
nascido em 1928 e falecido em 1982, é um dos autores mais importantes do
chamado pós-modernismo, tendo vindo nos últimos anos a ter um
reconhecimento crítico e académico que não possuiu em vida, e que é
exemplificado da melhor maneira através das recentes reedições das suas
obras, como na coleção da influente e canónica
Library of America, que já dedicou dois dos seus volumes aos livros
mais importantes de Dick, tais como “Do
Androids Dream of Electric Sheep?", traduzido em Portugal como “Blade
Runner – Perigo Iminente” e adaptado ao cinema na obra-prima de
Ridley Scott, “Ubik”, “Os Três Estigmas de Palmer Eldritch”, “Flow
My Tears, the Policeman Said/Vazio Infinito”, “O
Homem do Castelo Alto”, “A
Scanner Darkly”, traduzido e filmado como “O
Homem Duplo”, por Richard Linklater, etc. Curiosamente, para um escritor que no início da
sua carreira teve de escrever centenas de contos e dezenas de romances
para pagar as contas e as pensões de alimentos das suas ex-mulheres, a
sua obra tem sido “minada” pela máquina de Hollywood (além dos filmes já
mencionados, destacam-se “Total
Recall/Desafio Total”, de Paul Verhoeven, “Relatório Minoritário”, de Steven Spielberg, “Screamers - Gritos Mortais”, “Impostor”,
“Next - Sem Alternativa”, “Paycheck/Pago
para Esquecer”, “The
Adjustment Bureau/Agentes do Destino”), que geralmente aproveita
apenas as suas ideias gerais, os seus conceitos extremamente originais,
mas deixa de fora o intenso questionar da noção de realidade, do que
significa ser humano, e também a forte empatia com as suas personagens,
geralmente trabalhadores e pessoas comuns, mas que têm a coragem de
questionar o que se passa à sua volta.
Um escritor visionário e a sua visão da
realidade O tema deste
trabalho, e que demonstra o porquê do pós-modernismo e dos escritores
atuais, e não apenas os de Ficção Científica, usarem e aproveitarem os
conceitos centrais da obra de Dick, cada vez mais atual, é o de
compreender o que é a nossa Realidade, percebida como tal pelos nossos
sentidos, e o que poderá ser um mundo que não é mais que um simulacro,
uma simulação, virtual ou provocada pelos sentidos, ou através de
fenómenos que não são facilmente explicáveis: “Talvez cada ser
humano viva num mundo único, um mundo privado, diferente daqueles
habitados e experimentados por todos os humanos… Se a realidade difere
de pessoa para pessoa, podemos falar de uma realidade singular, ou
deveríamos pelo contrário falar de realidades plurais? E se há
realidades plurais, haverá algumas mais verdadeiras (mais reais) do que
as outras?” (Akgiray, 2004: 6). Andrew M. Butler,
na sua obra sobre Dick, descreve um episódio ocorrido com o escritor, e
que todos já experimentámos, uma ou outra vez na vida: “Entro na cozinha
para pôr a chaleira ao lume. É de noite, por isso tento alcançar o
interruptor de luz, à minha esquerda. Tacteio a parede um bocado, mas
ainda assim, não o consigo encontrar. Olho com mais atenção a parede, e
nada. De repente, apercebo-me que o interruptor está no outro lado da
porta, sempre esteve do outro lado, embora me consiga lembrar, com toda
a certeza, que houve uma altura em que o interruptor não estava nesse
lado da parede…” (2000:7). O título do
capítulo inicial do livro de Butler é indicativo desta faceta da obra de
Philip K. Dick: Para Além do Véu. Na sua obra, e para as suas
personagens, a realidade está sempre sujeita a revisão. Dick é o poeta
laureado das falsas memórias e das falsas experiências. Várias vezes, as
suas personagens consomem drogas alucinogénias que os levam até uma
realidade diferente, a estranhos lugares, e no final do livro, o leitor
nunca está certo de que as personagens voltaram à “sua” realidade. De
facto, nem as próprias personagens sabem em que realidade estão. Ou
então, as personagens de Dick vivem num mundo perfeito, com vidas
perfeitas, apenas para se aperceberem, num golpe do destino, que essa
realidade é uma ilusão, que o mundo é um palco e que as pessoas nele são
meramente fragmentos da imaginação, como escreveu Shakespeare. Mas Philip K. Dick
está também interessado na natureza da nossa definição de Realidade.
Como Butler explica: “Serão tudo e
todos os que vemos na televisão algo de real? Afinal, muitas das
estrelas que vemos na televisão não envelhecem. Poderá esta ubiquidade
ser explicada pelo facto de serem na realidade androides, simulacros,
programados para nos venderem comida de gato, e manter-nos a todos
hipnotizados com maus concursos, esperançados em obter produtos de
consumo que nunca ganharemos, e sermos ricos para além dos nossos
sonhos?” (2000: 8). Mesmo com tantos
significados dúbios e realidades que poderão não o ser, há alturas em
que os seus protagonistas têm de acreditar que a sua realidade é a
verdadeira realidade. E depois, têm de aguentar com todas as suas
forças, quando o oposto prova ser verdade.
Como construir um universo que não se
desfaça dois dias depois Philip K. Dick,
além dos seus livros de Ficção Científica, Fantasia (e alguns sobre a
realidade contemporânea da América nos anos 50 e 60), foi sempre um
estudioso muito sério de Filosofia, de História da Religião, da forma
como o sobrenatural e o não explicado entram nas nossas vidas, tendo
escrito extensas notas sobre Filosofia Grega, a História de Roma,
Teologia, Cosmogonia e Cosmologia. Este interesse em
compreender um universo que o desafiava e o deslumbrava, está presente
na maioria das suas obras, mas principalmente nos seus artigos,
discursos e cartas. O texto
fundamental para compreender a visão de Dick sobre o mundo e sobre a
natureza humana, é o célebre discurso que fez em Metz, na Conferência de
Ficção Científica de 1978, intitulado “If you find this World bad, you
should see some of the others/ Se acham este Mundo mau, deviam ver
alguns dos outros”. Nesta palestra,
que na altura lançou o mundo literário da Ficção Científica num
turbilhão, Dick apresenta várias teses, como a dos mundos simulados,
mundos falsos, mundos alternativos, de dimensões que se sobrepõem umas
às outras:
“Proponho-vos pensarem que a criação destes
chamados “presentes alternativos” estão continuamente a ter lugar. O
próprio facto de conceptualmente conseguirmos lidar com esta noção – ou
seja, aceitá-la como uma ideia plausível – é o primeiro passo para
conseguirmos distinguir esses processos por nós próprios (…) Mas
provavelmente, tudo o que conseguiremos serão vestígios de memórias,
fugidias impressões, sonhos, nebulosas intuições de que de alguma
maneira as coisas eram diferentes – e não antigamente, mas
agora” (Sutin, 1995: 242). Realidade objetiva e Realidade
subjetiva Numa das suas
histórias mais influentes, “The Electric Ant/A Formiga Mecânica”, a
personagem principal, Garson Poole, depois de ficar magoada num acidente
do qual não se recorda, acorda num hospital com um braço mecânico, e
descobre que o que perceciona à sua volta não é mais do que um produto
de uma máquina cibernética dentro do seu corpo, que transmite para o seu
cérebro impulsos que determinam o que para ele é a “realidade”. No final deste
conto, Poole pretende sentir tudo o que o rodeia ao mesmo tempo: “Tenho a
oportunidade de experimentar tudo. Em simultâneo. Conhecer o Universo na
sua totalidade, de estar momentaneamente em contacto com toda a
realidade. Uma composição sinfónica a entrar no meu cérebro, fora do
Tempo, todas as notas, todos os instrumentos, a tocarem ao mesmo tempo.
E todas a s sinfonias, ao mesmo tempo” (Dick, 2002:330). Depois desta
experiência avassaladora, Poole tem uma “sobrecarga” de sensações e
emoções, e desaparece dentro do computador que afinal albergava a sua
“consciência”, durante todo o tempo em que pensava que estava vivo. Ao
mesmo tempo que Poole desaparece, toda a sua realidade e as pessoas que
conheciam, começam a ficar translúcidas e a desaparecer. Dick tenta, no
espaço de poucas páginas, chegar ao âmago da noção de “Realidade”, que
ele definiu como “Algo que, no momento em que deixamos de acreditar
nesse algo, não desaparece” (Sutin, 1995: 263). Nas palavras de
Poole, “A realidade objetiva é uma construção sintética, que lida com
uma universalização hipotética de uma multitude de realidades
subjetivas” (Dick, 2002: 331).
Drogas, Alucinações e a Demanda da
realidade No discurso de
Metz, Philip K. Dick leva ainda mais longe a sua demanda pela realidade,
descrevendo as diferenças entre o reino empírico, o reino dos sentidos e
o reino arquétipo que existe por detrás do véu: “Podemos sonhar
com pessoas ou lugares que nunca vimos, de forma tão vívida como se os
tivéssemos na realidade visto, na realidade conhecido. Mas não
saberíamos o que fazer desta sensação (…). A nossa única e pronunciada
impressão seria, provavelmente, a de que já tínhamos feito o que
estávamos a fazer naquele momento, que tínhamos vivido um momento
anteriormente. (…) Teríamos a impressão avassaladora de que estávamos a
reviver o presente, precisamente da mesma maneira, ouvindo e dizendo as
mesmas coisas…” (Sutin, 1995: 243). Philip K. Dick usou o reino da especulação para explorar a natureza da Humanidade e a sua nunca-terminada interrogação de si própria. É difícil encontrar um escritor mais pós-moderno que Dick, que nos fala do paradoxo em que vivemos, ainda hoje, no mundo moderno. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Bibliografia:
Akgiray, Meva (2004). From science fiction to postmodernism in three novels of American writer
Philip K. Dick.
Tese de Mestrado,
em
http://2010philipkdickfans.philipkdickfans.com/articles/meva-thesis.htm
[consultado em 15-06-2014]
Butler, Andrew M. (2000). Cyberpunk. Herts: Pocket Book Essentials
Butler, Andrew M. (2000). Philip K. Dick. Herts: Pocket Book Essentials
Dick, Philip K. (2002). The selected short stories of Philip K. Dick. New York: Pantheon
Books Sutin, Lawrence (ed.) (1995). The shifting realities of Philip K. Dick: selected literary and philosophical writings. New York: Vintage Books |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Gaspar Garção (Portugal, 1974). Licenciado em
Jornalismo e Comunicação pela Escola Superior de Educação de Portalegre
e mestrando de Jornalismo, Comunicação e Cultura na mesma entidade. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
© Maria Estela Guedes |
|||||||||