 |
|
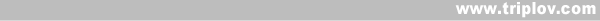
|
REVISTA TRIPLOV
de Artes, Religiões e Ciências
Nova Série | 2010 | Número 01
|
| |
Viajando pelas regiões a norte do rio
Han, Tzu-Gung avistou um ancião
que trabalhava a terra. Tinha cavado um canal de irrigação. Descia a um
poço,
colhia um balde de água e o despejava no canal. Apesar do enorme
esforço, os resultados pareciam ser bastante pobres.
Tzu-Gung lhe disse – “Há um modo de irrigar uma centena de canais
como este num só dia, assim pode ser realizado muito, com pouco esforço.
Isso lhe parece interessante?”. O velho agricultor olhou para ele e
perguntou:
“E que modo é esse?”. Tzu-Gung respondeu
prontamente: “Apanha-se uma alavanca de madeira,
pesada numa ponta e leve na outra.
Dessa forma se pode puxar tanta água que mais parecerá um riacho.
É o que se chama de monjolo”. Então, o sangue veio à face do velho
homem, e ele disse: “Ouvi do meu mestre que quem quer que use máquinas
acabará por fazer tudo como uma máquina. Quem trabalha como uma máquina,
terá o coração de uma máquina. E quem leva ao peito uma máquina, perderá
a sua simplicidade
e será inseguro nas lutas da sua alma. Incerteza nas lutas da alma
é algo que não está de acordo com o sentido das coisas honestas.
Não é que eu não saiba fazer essas coisas. Tenho vergonha de as fazer.
Werner Heisenberg, in The Physicist’s Conception of Nature
A geração da televisão é um bando severo. São muito mais sérios
que as crianças de qualquer outro período – quando eram mais frívolos,
mais caprichosos. A criança da era da televisão é mais enérgica, mais
dedicada.
Mais frequentemente os poucos segundos entre as horas de programa
– os comerciais – reflectem uma compreensão mais realista
do meio. Simplesmente, não há tempo para a forma narrativa,
tomada de empréstimo da tecnologia anterior, da imprensa.
O enredo tem de ser abandonado. Até muito recentemente, os comerciais
de televisão eram considerados simplesmente
como uma forma bastarda, uma forma vulgar de arte folclórica.
Eles estão influenciando a literatura contemporânea.
Marshall McLuhan, in The Medium is the Message |
|
|
| DIREÇÃO |
|
|
Maria Estela Guedes |
|
| |
|
|
Série Anterior |
|
| Índice de Autores |
|
| Nova Série
| Página Principal |
|
| |
|
| SÍTIOS ALIADOS |
|
|
TriploG |
|
|
Incomunidade |
|
|
Jornal de Poesia |
|
|
Agulha
Hispânica |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
Emanuel Dimas Pimenta
BREVE HISTÓRIA
DO DESENHO DO TEMPO
|
 |
|
Emanuel Dimas Pimenta |
|
| |
O ser humano sempre desenvolveu, em qualquer das suas
obras, uma espécie de duplo de si.
Cada acto é resultado de uma estrutura anterior, de uma lógica – ou
sistema lógico.
Todavia, não se trata de um sistema fechado. Mas, antes, sempre o
recriar e o traduzir o mundo, onde um é o espelho diferencial do outro.
Essa condição diferencial foi demonstrada, já em 1927, pelo famoso
Princípio da Incerteza de Werner Heisenberg. Com ela, ficava clara a
impossibilidade de se medir com precisão propriedades complementares de
um determinado processo.
Toda a medição física envolve uma troca de energia entre o observador e
o seu objecto. Se iluminarmos algo para que possa ser observado, parte
da luz será absorvida pelo objecto, parte pelo próprio observador,
alterando o estado inicial do objecto que, após ter sido registado, não
será mais o mesmo – nem o observador.
Se procuramos determinar com precisão a posição de uma partícula,
afectamos a sua velocidade, e assim por diante.
Isso não ocorre apenas com elementos físicos. O processo de se pensar um
determinado desenho não se caracteriza por um estado estático. Ao
contrário, traduz-se num sistema orgânico que mais se aproxima das
estruturas sinergéticas elaboradas por Richard Buckminster Fuller.
Para Buckminster Fuller – notável designer e pensador Americano – o ser
humano ocupa um lugar intermediário entre os macro e os micro
acontecimentos – «...mais de 99% das tecnologias que influenciam as
mudanças são invisíveis.
Da mesma forma, o ser humano só pode ter uma compreensão limitada dos
factores históricos invisíveis».
A história do desenho do relógio está, na sua larga maioria,
directamente associada a sociedades que se explicam através da história
– supertecnologia invisível articulada num longo encadeamento linear
onde os seus termos se interpolam numa relação de natureza teleológica.
Quando observamos um relógio, entramos em contacto directo com o que
certamente é um dos mais antigos mitos não verbais da nossa civilização.
Um mito tabu que antecede e cunha todos os outros – o tempo. Deus
inatingível que resume vida e morte, não mais resultado de uma estrutura
pensamental, uma estrutura lógica que, através da direccionalidade com
que se elabora a história, destaca objectos concretos e artificiais.
Deus ícone, não verbal, mas que lança as suas raízes ao verbo, à ilusão
da contiguidade.
Exactamente por isso, certamente não terão fim, para esse mecanismo
civilizatório, as salas especializadas para concertos musicais ou o
palco cénico: o visual destacável do Ocidente.
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
O relógio é, para nós, uma espécie de totem único. Totem cujo objecto
final é o próprio pensamento Ocidental formalizado no conceito do tempo.
Clone quase congelado do impulso humano de se projectar para fora e de
se separar da Natureza, como um espelho.
Individuação e espaço.
Espelho mito-lógico do ponto crítico quando o ser humano se descobre ser
falante: a sepultura e o sonho. Quando o carácter é outorgado ao corpo.
Linguagem.
Um produto que cerca a sociedade que o recria, num processo semelhante
ao Princípio da Indecidibilidade de Kurt Gödel, há mais de cento e
quarenta mil anos.
Essa qualidade mítica, enquanto visão instantânea, sistática, de um
longo e complexo processo – abordagem imediata e congelada de um
objectivo inatingível mas próximo, que é o mito – realiza aquilo a que
chamamos de moda, para se instalar no pulso de cada um, como extensão
táctil e visível de uma estrutura lógica.
Condição que desempenhou um importante papel no desenho do relógio que,
monumento pulverizado e atomizado do pensamento Ocidental, é consumido
como símbolo de elevada posição social por populações letradas, mas
paradoxalmente também pelas iletradas que ainda não operam um tempo
depatamentalizado entre índices visuais.
No Brasil, como também em diversos países do chamado terceiro mundo,
onde a maioria da população não é letrada, milhões de relógios de pulso
coloridos – símbolos de uma cultura mais avançada – competem entre si.
Milhões de relógios baratos são vendidos, não pela função, mas pelo que
representam.
Para essa população, o tempo ainda é o dos sinos das igrejas, agora
traduzidos pelas sirenes das indústrias, desenhando horas de chegadas,
partidas, almoços e pausas – um tempo ainda medieval.
Cada sistema lógico desenha um determinado tempo e espaço.
A maior parte da população Brasileira, neste final de século, salta
directamente de uma cultura oral para outra, electrónica.
Por essa razão, a televisão, a rádio e o telefone tiveram tanto sucesso
em solo Brasileiro, enquanto que o mercado editorial, os jornais em
geral, as revistas e até mesmo as bandas desenhadas que são uma espécie
de tradução para o papel das técnicas do quadro a quadro do cinema – que
conheceram um curto período de expansão no início da industrialização
dos anos 1960 – encontram sempre enormes dificuldades.
Para os índios Brasileiros Suya, até mesmo a idade de uma pessoa não é
determinada por padrões cronológicos. O antropólogo Anthony Seeger
descreve a sua integração com os Suya: «Tratavam-me como um menino de
doze anos quando partimos, pois eu sabia remar, pescar e caçar pelos
arredores, como faz um menino de doze anos. Sabia conversar
adequadamente na língua deles, mas sem o discernimento e controlo de
imagens e metáforas que os adultos sabiam empregar. Acima de tudo, os
jovens devem ouvir e aprender e, e certo modo, eu era um menino ideal de
doze anos».
Quando, ainda no século XIX, os missionários Salesianos impuseram aos
índios Bororo uma súbita modificação no traçado original da sua aldeia,
que era circular, transformando-a num traçado ortogonal, eles estavam
destruindo não apenas os referenciais espaciais daquela sociedade, mas
também impunham um novo parâmetro temporal, de um tempo fraccionado em
segmentos visuais. A ortogonalidade imposta para os obrigar a uma rápida
conversão ao Cristianismo era, na verdade, uma estratégia para conversão
ao pensamento Ocidental, departamentalizado e hierarquizado em elementos
estanques.
Claude Lévy-Strauss conta que «a distribuição circular das palhoças em
torno da Casa dos Homens é de tal importância para os Bororo, no que diz
respeito à vida social e à prática do culto, que os missionários
Salesianos da região do rio das Garças rapidamente descobriram que a
forma mais segura de os converter consistia em os obrigar a abandonar a
aldeia original, trocando-a por outra,
onde as casas são dispostas em filas paralelas. Desorientados
relativamente aos pontos cardeais, privados da planta que fornece um
argumento para o seu saber, os indígenas perderam rapidamente o sentido
das tradições, como se os seus sistemas social e religioso fossem muito
complexos para que pudessem sobreviver sem o esquema tornado patente
pela planta da aldeia e cujos contornos são perpetuamente refrescados
pelos seus gestos quotidianos».
Para os povos indígenas Brasileiros são tantos os tempos quantas as
formas de vida existentes.
Até mesmo para o ser humano criado no campo existe o tempo da colheita
do arroz, do trigo, o tempo de criação das vacas ou dos coelhos. Tempos
das ocorrências naturais como a chuva, o frio, a noite e o dia.
A hora do almoço de uma pessoa agrária não é a mesma da hora do almoço
de um indivíduo urbano. Para o camponês vale a hora do sol mais forte,
que prejudicará a continuidade do seu trabalho.
No campo, o tempo é desenhado pelos fenómenos naturais – algo que vai
gradualmente sendo transformado pela indústria.
O desenho do relógio vem se desenvolvendo a partir daqueles desenhos,
lançando-se ao antigo mito não verbal de uma projecção sobre uma espécie
de organismo topológico – a luz e o planeta.
Para a civilização Europeia, isso projectou a super-tecnologia da
história, realizando um meta universo linear, causal e sequencial. Um
mundo onde pensamento e acção se separam – ainda que seja um mundo já
tocado e modificado pelos meios electrónicos.
O relógio, assim como o alfabeto fonético, visualiza o mundo, distancia
e esfria o antigo tempo auditivo, integral.
O tempo visual, fragmentado e departamentalizado, aspira ao tempo oral e
integral, seu meio anterior. Mas, tal como acontece com a história, na
aspiração impossível do seu objecto, tal aspiração é impossível pois,
uma vez alcançada, estaria desintegrado enquanto sistema teleológico.
O tempo primitivo, pré alfabeto fonético, é de natureza integral e
tautológica.
Nele não há cronologia como entendemos, e os recursos mnemónicos não
operam por diacronia. Então, não existe obrigatoriamente o antes e o
depois, mas sim um tempo global.
Para alguns historiadores, o conjunto megalítico de Stonehenge,
construído aproximadamente entre 2300 e 1300 a.C., onde actualmente é o
sul da Inglaterra, é um misterioso computador astronómico que, através
da sua forma circular com diversos marcos dispostos regularmente, teria
tornado possível a divisão do tempo na pré-história.
É notável a semelhança entre Stonehenge e os planos circulares das
aldeias Bororo. Mais que a determinação de um tempo regular, o desenho
servia de ligação a um tempo cósmico, total.
Para outros, Stonehenge é, simplesmente, um fabuloso ao deus Sol.
Entretanto, uma tal divisão departamentalizada entre visível e
invisível, entre o momento da observação e o da interpretação, entre
objecto e símbolo – que torna possível a eleição de um deus Sol – muito
provavelmente não existia para o mundo pré-histórico, tal como não
existe para os Bororo.
Stonehenge não é um incrível computador analógico feito com algum
propósito, ou um templo para a adoração de um deus sol
departamentalizado.
Para o habitante pré-histórico Stonehenge era o próprio Sol e, mais do
que isso, o céu primitivo, todo o cosmos – tal como acontecia com a
aldeia Bororo.
Certamente um último deus integral e um primeiro monumento Ocidental.
O desenho de Stonehenge é a imagem do que está entre a sociedade que o
erigiu e o universo em que estava imersa.
Para aquela categoria de tempo, a percepção se estabelecia no todo.
Mecanismo como organismo.
Mecanismo biológico.
Imagem da imagem do cosmos.
Assim, Stonehenge não permite uma interpretação fragmentária.
Cada pedra é o todo, sem paisagem. Figura total, sem fundo. Somente mais
tarde, com o alfabeto fonético, é que se passa a pensar e traduzir o
objecto sobre si próprio.
Metalinguagem é produto de uma sociedade literária.
Enquanto que o espelho, em Stonehenge, é o mecanismo celeste e com ele a
própria Terra num determinado lugar, para os relógios computadorizados
do século XX, será a própria mente humana, o Universo e o planeta em
todos os lugares – não mais como figura e fundo, mas enquanto processo.
A história enquanto tecnologia não ocorre exclusivamente de forma
diacrónica como desejava a física clássica, mas opera também na sua
verticalidade, fazendo emergir a unidade do seu discurso linear e
direccional a partir da lógica do operador de linguagem. Isto é, em cada
tempo a própria história tem um significado diferente, lembrando
novamente o princípio de Heisenberg.
É certo que os primeiros relógios Ocidentais foram desenhados com a luz.
A luz quantifica o espaço e a projecção dos raios solares transforma de
forma minimalista a paisagem.
No Oriente, os medidores de tempo não raro operavam com a água, em
aparente analogia ao contínuo movimento dos rios e às contínuas
transformações da Natureza, como forma para o estabelecimento de uma
leitura integral do mundo.
Para o Ocidente, a figura do Stonehenge – ícone do céu e do cosmos
primitivo – ainda não pode ser especificamente classificado como relógio
de sol objecto.
É, antes, um des-objecto que se muta em deus objecto.
Julga-se que os primeiros instrumentos especializados, destinados
especificamente à medição do tempo eram espécies de relógios de sol,
chamados de gnomons posteriormente pelos Gregos. Ainda que tenham sido
criados há milhares de anos, foram utilizados durante muitos séculos.
Eram astes verticais projectando o desenho do movimento solar como
sombra sobre o piso – que mais tarde ganharam, no Egipto, a forma de
obeliscos, altos pilares quadrangulares, terminados em forma piramidal,
geralmente marcados com inscrições e hieróglifos.
Por vezes, sobre o solo, ao seu redor, era desenhado um círculo com
marcos dispostos de forma a permitir a divisão do dia em diversas
partes, indicadas pela passagem da sombra do pilar.
Haviam muitos gnomons no Egipto – alguns destruídos pelo tempo, outros
removidos para Roma, para Paris entre outros lugares. O surgimento da
pirâmide baixa no seu topo, enquanto símbolo, já indica a presença de
uma estrutura lógica direccional, hipotática, mesmo que ainda em baixa
intensidade.
Onde se localizassem os gnomons eram organizados à sua volta desde
discursos de reis e imperadores, convocação de soldados, julgamentos e
cerimónias públicas de toda a espécie. Tudo girando em torno do tempo e
do poder. É daí que nasce a ideia da praça e do pelourinho!
Essa condição de verdadeiros símbolos do poder constituído que foram os
gnomons ultrapassou, de uma ou de outra maneira, todas as barreiras
histórias, para se implantar na figura dos relógios nas mais diversas
culturas e sociedades.
O meio e o símbolo que se engolem, tal como uma fita de Moëbius ou a
serpent de Paul Valery.
A coluna e o círculo, extraídos de um complexo cosmológico formado pelos
elementos altura, gravidade, poder e sombra, todos enfeixados no signo
Sol, principais componentes estruturais do desenho do gnomon,
destacaram-se desse mito objecto para se instalar enquanto referência
metafórica em muito da arquitectura simbólica, presentes até aos nossos
dias, não apenas no desenho da arquitectura nazi ou fascista.
Os gnomons eram o ponto de fuga da cidade antiga, para onde convergiam
todos os interesses e atenções.
Até hoje, praticamente todas as pequenas cidades localizadas no interior
de países novos, fundados e colonizados por Europeus, tal como o Brasil,
têm regularmente um relógio no alto de uma coluna ou na torre de uma
igreja, na praça principal.
Essa reconstrução inconsciente do longínquo obelisco totémico numa
sociedade não letrada possui, ainda no final do século XX, os seus
escritores à máquina espalhados nessas mesmas praças, que cobram para
escrever uma carta ou um contrato. Como se lembrassem a presença de Toth,
deus da escrita, acompanhados pela televisão e pela rádio, são uma
população que saltou directamente da sua condição oral para a
electrónica.
Gnomon – cujo termo nasce do Grego gnosis, que significa conhecimento.
Forma vertical, alongada.
Monumental e estabelecido sobre o piso plano: imagem sombra, negativo
impresso da cúpula celeste na terra.
Mito pensamento.
Essa supertecnologia invisível do tempo marca a Antiga Grécia, o Império
Romano, mas se desarticula com a chegada dos povos bárbaros, com o
início do medievo, para ser novamente resgatada já na Alta Idade Média e
Renascimento.
O relógio é o ícone da história.
Do outro lado do planeta, na China, a clepsidra é desenvolvida em cerca
de 2700 a.C., durante a Era de Hoang-Ti.
A palavra Grega clepsidra, utilizada para designar relógios de água,
significa exactamente reter água.
Em oposição ao relógio solar, que extrai do movimento do Sol a
visualização do tempo, a clepsidra cria as primeiras condições para o
estabelecimento de um tempo artificial.
No Oriente, a clepsidra é sempre um mecanismo que procura se assemelhar
à Natureza no seu modus operandi, produzindo modelos de comparação.
Mecanismos de estranheza ao natural que operam por similaridade,
imitando fluxos de rios. O natural recriado artificialmente.
As formas das clepsidras Orientais eram bastante diferentes daquelas que
seriam produzidas no Ocidente.
Entretanto, até à chegada dos missionários Europeus já no século XVIII,
o usual quer para Chineses como para Japoneses ainda era medir o tempo
através de graduações de incenso.
Horas, dias e até mesmo estações climáticas medidas pelo perfume.
Percepção integral.
No século XX, intervenções cirúrgicas cerebrais realizadas em zonas
neuronais especializadas no olfacto são capazes de fazer reviver antigas
imagens mentais nos pacientes – imagens que surgem dominadas por
perfumes e fragrâncias que estruturam a memória de experiências
passadas.
Como mostra Marshall McLuhan, o olfacto não é apenas o mais delicado e
subtil dos sentidos humanos, ele também é o mais icónico, pois envolve
toda a sensorialidade humana da maneira mais completa do que qualquer
outro sentido.
Sentido olfactivo para um desenho de tempo completamente diferente
daquele ao qual nos habituamos a considerar como verdadeira medida
temporal.
Na China, esse desenho olfactivo do tempo era o mais popular.
As clepsidras eram geralmente reservadas como modelos para observação
astronómica.
Enquanto que o Oriente desenhava as suas clepsidras de forma a resgatar
analogicamente o fluxo dos rios e o movimento das estrelas, numa
abordagem líquida, criando esferas que giravam lentamente devido ao
atrito com um fluxo contínuo de água; o Ocidente importou aquela
tecnologia e a adaptou, através de um processo de contiguidade, o
relógio de água à imagem já estabelecida pelo relógio de sol, pelo
desenho das sombras.
No mundo Ocidental o tempo é organizado de forma direccional e
hipotática. Por isso, nunca se chegou a criar de forma sistemática no
Ocidente um desenho de clepsidra original, que operasse com uma lógica
líquida, mais integral.
Com o desenvolvimento do relógio de Sol ocorre exactamente o oposto.
O Sol é um elemento fortemente visual e no Egipto, por volta de 1400
a.C., surgiriam os primeiros quadrantes solares.
O mais antigo quadrante solar que se conhece possui um desenho genial.
É formado por uma aste com a figura da letra T. A projecção da sombra
sobre o prolongamento horizontal daquela aste indica as divisões do
tempo.
O seu desenho é o fascinante desdobramento de um céu geometrizado.
Um notável desenho que resgatou matematicamente o movimento terrestre.
Inúmeras relações podem sugerir o desenho desses primeiros quadrantes
solares – a figura T lembrando o símbolo de Osíris, deus do
renascimento, ou mesmo a cruz Cristã: elementos gráficos que digitalizam
uma coordenada específica.
A busca da ortogonalidade no planeamento urbano não é mais que uma forte
digitalização do espaço na cidade. Os exércitos Romanos, já mais
fortemente visuais, também operavam sistemas ortogonais.
O quadrante solar revela um desenho que ultrapassa o presente, o aqui e
agora, para se instalar nas relações matemáticas do movimento terrestre.
Círculo virtual.
Em 580 a.C., Anaximandro incorporaria ao desenho original do quadrante
solar o círculo gnómico. Com esse passo, surge o mais antigo ancestral
dos nossos mostradores, utilizados na grande maioria dos relógios até
aos nossos dias.
Então, os relógios de sol criados por Anaximandro roubam para si a
designação de quadrantes solares.
Esses quadrantes sobreviveram durante vários séculos. Circulares e
côncavos, conheceram uma grande popularidade em toda a Europa até ao
século XIX. Eram geralmente utilizados nos jardins e varandas dos
palácios, como símbolos de status quo e poder.
Foram muito utilizados pelos antigos Romanos, que acabariam por difundir
o seu uso por todo o Império. Com isso, os Romanos desencadearam um
verdadeiro movimento de digitalização do tempo e do espaço.
Suficientemente abastecido de papiro, o Império Romano produziu a
metamorfose alfabética da cultura para os novos termos visuais.
Os Gregos não tinham a mesma densidade visual que os Romanos.
Esse factor de direccionalidade, alta fragmentação e uniformização do
tempo, produzido pelos Romanos, acaba por projectar um desenho de
comportamento social.
Na verdade, tal desenho comportamental não surge única e exclusivamente
do desenho dos relógios, que são parte do processo, verdadeiros totens
de uma tecnologia civilizatória.
Mas, o universo uniformizado e departamentalizado Romano se desfaz e com
ele também a primitiva ideia de um tempo relativamente padrão e estável.
Gradualmente, num clímax que parece ser atingido em torno do século
XIII, os sinos nas igrejas vão deixando de ter a função de chamar os
fiéis para este ou aquele evento e passam a diagramar o dia, levando
para fora das igrejas a estrutura do rito, uma nova onda de estratégia
visual, desta vez Católica.
Já cultura de massa.
As catedrais simbolizadas pelas torres traçam o ponto de fuga da cidade
medieval.
Os primeiros relógios mecânicos e os seus prolongamentos auditivos – os
sinos que os antecederam em muito – desenham-se enquanto negação do
camponês.
É nessa época que surge, na Europa, a ideia de confinamento dos
criminosos em espaços estanques: o direccionamento especializado da
culpa. A individualização total do criminoso – que tem início no século
XIII, em termos do seu isolamento pessoal – é algo quase impossível numa
sociedade plenamente electrónica: todos passam a ter consciência de que
a culpa não pertence apenas a um único indivíduo, mas a uma sociedade.
O ser humano passa a operar mais intensivamente a visão. A detenção
visual localiza e digitaliza a culpa.
É então que os princípios medievais que orientavam a representação
pictórica começam a ser definitivamente superados.
Pouco a pouco, o que era o tempo medieval – superposição de tempos
simultâneos – passa a se caracterizar por um espaço tempo articulado num
complexo contínuo e uniforme.
Surgem Giotto e Duccio – os primeiros a usar a perspectiva na pintura.
Curiosamente, até chegarmos ao século XIII, o Ocidente – que compreendia
o universo Árabe – já contava com duas diferentes escalas de tempo.
Escalas que, ao longo dos séculos, mergulhadas no medievo, vinham
gradualmente simplificando a percepção integral de um tempo complexo,
profundamente agrário, que se erigia sobre diversos outros tempos,
simultaneamente. Duas medidas que iriam desaguar, inevitavelmente, na
introdução do tempo duramente diacrónico.
Uma primeira escala, determinada pelo desenho do movimento do Sol no
céu, através dos quadrantes solares. Outra, através das ampulhetas, era
uma escala menor.
Meios de alta e baixa definição.
Ambas traziam em si a condição integral do mundo agrário, do universo
acústico, mas também, inevitavelmente, prenúncio do rigor que seria
implantado pela alta departamentalização de uma cultura mecânica.
A clepsidra, adaptada ao Ocidente, acabaria por ser uma escala
intermediária entre esses dois tempos, superando-os. E é exactamente
ela, dado o seu desenho artificial de tempo, que faria surgir os
primeiros relógios mecânicos.
E, como se tratássemos de um puro paradoxo, seria seguramente de uma
degeneração do desenvolvimento da clepsidra no Egipto que surgiria a
ampulheta.
A ampulheta seria, assim, o primeiro bem sucedido marcador de tempo
portátil para essa escala menor de tempo.
Em termos de desenho, a ampulheta foi a montagem da clepsidra e do
relógio solar, o gnomon.
Supõe-se que, devido a problemas técnicos com o uso da água em regiões
muito secas, a ampulheta – que teria sido projectada originalmente para
funcionar com água – passou a ter a areia como elemento fundamental.
Outros argumentam que basta tomar um punhado de areia e fechar a mão
para compreender o desenho original da ampulheta.
Ainda assim, o seu desenho, com a forma de duas gotas, dispostas
contrária e simetricamente, verticais como uma coluna, é suficientemente
esclarecedor.
Em todo o desenho há sempre um momento de máxima eficiência funcional –
e é aí que se revela a leitura directa do seu meio anterior.
A ampulheta nasce a partir de um procedimento puramente visual – a
condição por excelência da estrutura do seu desenho.
Essa condição faz com que, gradualmente, o seu uso seja cada vez maior
em toda a Europa medieval.
O primeiro totem pessoal, digitalizando o tempo visual e operando uma
outra categoria de espaço.
Passou a ser possível medir o tempo que levava a percorrer um espaço sem
ser necessário recorrer ao Sol ou às estrelas.
Passou-se a visualizar o tempo em curtas viagens, trabalhos, garantindo
a cada possuidor desse mágico instrumento um tempo específico, pessoal e
departamentalizado.
Tudo isso coincide com o início da fabricação de papel no continente
Europeu.
Surgem assim características típicas da tecnologia visual: a deslocação
de símbolos sobre a superfície e um processo nitidamente metafórico.
Mas, ainda, a miniaturização.
A metáfora é produto de uma lógica hipotática e hierarquizante.
A gradual digitalização do pensamento na Idade Média faz com que haja o
desaquecimento de um mundo até então fortemente agrário, repressor e
auditivo.
Emerge, até mesmo, a exigência de uma simetria – exigência assegurada
pelo espelho e pela perspectiva plana – índice do universo literário,
que projectará, até mesmo nos primeiros mostradores de doze horas de
relógios mecânicos o número IV transformado em IIII.
Alfonso X, sábio rei de Leão e Castela de 1252 a 1284, protestava acerca
da complexidade que os sistemas planetários então descobertos
representavam, revelando como a intensificação visual elimina as
complexidades auditivas.
Assim, ele observava: «Se Deus Todo Poderoso me tivesse consultado antes
da Criação, eu teria recomendado algo mais simples».
Nessa curiosa observação, impossível para alguém pertencente
exclusivamente ao universo agrário ou auditivo, Alfonso X manifestava a
síntese e o grau de digitalização do seu próprio pensamento, dividindo e
relacionando as suas ideias numa organização de natureza já fortemente
mecânica e visual.
Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 e 1543, traçaria a revolução que
poria fim ao sistema Ptolomaico.
Copérnico digitalizou o cosmos e dotou a Terra, consequentemente, de um
valor igualmente digital.
No seu célebre De Revolutionibus Orbium Coelestium, de 1543, ano da sua
morte, ele não apenas desdobra o seu fascinante mundo visual, como
descreve um interessante momento histórico em relação ao tempo: «Destes
lados resulta claramente que, se em relação a uma determinada altura do
polo tomarmos a diferença de dias, como está indicada na Tabela para a
declinação do Sol, e a juntarmos a um quadrante, tratando-se de uma
declinação norte, ou a subtrairmos, tratando-se de uma declinação sul,
multiplicando o resultado por dois teremos a duração daquele dia e a
duração da noite, sendo esta o que falta para o círculo. Se dividirmos
qualquer dos dois por quinze graus do Equador, obteremos o resultado em
horas iguais. Por outro lado, tomando o duodécimo da duração do dia,
encontraremos a duração de uma hora sazonal. Estas têm o nome de acordo
com o dia do ano, sendo sempre uma duodécima parte dele.
Assim, verificamos que os antigos falavam das horas de solstício de
verão, horas dos equinócios e horas do solstício de inverno. A noite era
dividida em quatro vigílias, ou guardas. Esse sistema de horas foi
utilizado durante muito tempo, por consenso comum entre os povos. Por
isso, as clepsidras foram inventadas.
Acrescentando ou diminuindo a quantidade de água que deveria correr,
variava a duração das horas para estarem adaptadas à variação da duração
dos dias.
Mas, depois que as horas iguais foram geralmente aceites, usadas para o
dia e para a noite, por serem mais fáceis de observar, as horas sazonais
foram colocadas de lado. Assim, se perguntarem a uma pessoa comum o que
era a primeira, a terceira, a sexta, a nona ou a undécima hora do dia,
ela não lhe dará qualquer resposta, e se o fizer, nada terá a ver com o
assunto. Por isso, mesmo as horas iguais são contadas por uns a partir
do meio dia, por outros a partir do por do Sol ou da meia noite, segundo
o sistema adoptado por cada Nação».
Para além das clepsidras, havia na Europa medieval um outro marcador de
tempo, bem mais popular: o relógio vela, que seria frequentemente
utilizado até ao século XVIII.
Uma longa vela com divisões que marcavam as partes do dia consumidas
pelo fogo.
A divisão do tempo em unidades específicas e iguais passou a digitalizar
o ritmo biológico humano.
A impaciência dos nossos dias indica uma espera por algo que demora.
O sistema visual, como uma supertecnologia, organiza o cosmos em
unidades sistáticas intercambiáveis. O universo acústico é de natureza
contínua, mas é o mundo visual que produz a sensação histórica do tempo
linear, atirando o seu sujeito a um passado identificável, destacado e
quantificável e, assim, projectando uma ideia de futuro.
Os monumentos e a própria arte, como a designamos, seriam impossíveis
numa cultura onde o tempo opera fortes relações de sincronicidade.
Por isso, geralmente não há monumentos em sociedades tribais.
O fraccionamento gerado pela intensificação da visão divide o trabalho,
elabora a divisão de classes sociais e visualiza o capital.
Identifica e visualiza o poder.
Uma pessoa passa a poder acumular dinheiro para passar para outra camada
social, hierarquicamente mais privilegiada – e ainda que essa
possibilidade não seja, tantas vezes, simples ou fácil, ela existe
potencialmente.
Com a introdução do relógio mecânico tem início a projecção de um
diagrama social diário, onde pesos e valores são distribuídos num
sistema hipotático que assegurará um certo controlo visual sobre a vida.
É então que tem início o conceito de génio e a ideia de propriedade
intelectual. Aí, o ensino da moral suplanta e faz praticamente
desaparecer o da ética.
O tempo passa a ser desenhado diacronicamente.
O relógio mecânico nasce da clepsidra.
Já tornadas mais e mais gnómicas no seu desenho, as clepsidras passam a
incorporar, gradualmente, com crescente intensidade, sistemas mecânicos
e engrenagens.
Para a Alta Idade Média o relógio sino unificava, nas praças e torres,
as actividades de toda a comunidade.
Para o Renascimento, com a invenção da imprensa de tipos móveis de
Gutenberg, o ser humano se individualiza e resgata na imagem regular da
tipografia – composta de elementos discretos articuláveis – a definitiva
imagem engrenagem do cosmos mecânico e literário.
É então que, com a invenção do escape, exerce não mais o controlo sobre
um contínuo linear de energia, como acontece com as clepsidras, mas
passa a estabelecer a fragmentação e departamentalização do fluxo
energético, dividido em partículas discretas, como espécie de metáfora
do próprio batimento cardíaco.
O centro do Universo deixa de ser a Terra, e o objecto do Universo passa
a ser o humano.
O círculo e os eixos dos antigos quadrantes solares permanecem e o
relógio mecânico nasce como figura mítica da lógica Ocidental.
Os primeiros relógios mecânicos não possuíam, entretanto, qualquer
mostrador – comandavam o sino. Eram, ainda, mais auditivos que visuais.
O primeiro ponteiro, sobre o mostrador, surge por volta do século XIII.
Um único ponteiro que orientava a leitura das horas, como o skyline da
sombra e a linha do quadrante em movimento.
O segundo ponteiro, de minutos, surgiria apenas no século XVII.
O tempo da Alta Idade Média é a metamorfose de um sistema múltiplo e
integral – parte não destacável de uma eternidade – para um tempo
preciso, dividido em partes iguais e composto de unidades estanques.
Como mostra Lévy-Strauss, a validade da passagem das leis da Natureza
para as da informação, uma vez demonstrada, implica a validade da
passagem inversa: o que, depois de milénios, permite aos seres humanos
se aproximarem das leis da Natureza pelas vias da informação.
O uso da bússola magnética para a navegação marítima, iniciada
aproximadamente no século XIII, digitalizou o espaço geográfico numa
meta estrutura visual que projectou um universo topogeomórfico paralelo.
Junto à diagramação temporal vem sempre a espacial.
Os sinos das igrejas e posteriormente os relógios mecânicos nas torres
são os grandes desenhadores comportamentais da Alta Idade Média,
estabelecendo uma nova relação espaço temporal.
A Igreja medieval atribuiu ao relógio mecânico um papel fundamental na
organização das actividades monásticas.
O desenho da tradição Judaico Cristã é estruturado em elementos
estruturais do pensamento Ocidental, e o objecto intocável das suas
religiões é o tempo, sempre distribuído num discurso de natureza
teleológica.
A cruz de Cristo se traduz enquanto ícone de um céu geometrizado.
Em aparente paradoxo, a Igreja Ocidental, que trouxe no seu discurso
todo um sistema fortemente hierarquizante e diacrónico, tal como a
história enquanto tecnologia, obedecendo aos princípios da linguagem
verbal escrita, se dessacralizou.
Como mostra McLuhan, o universo sagrado é dominado pela palavra e pelos
meios auditivos.
O universo profano é dominado pelo sentido visual.
O relógio, o alfabeto fonético e o papel, paradigmas estruturais daquele
discurso, dividindo o Universo em segmentos visuais, dessacralizou a
realidade, produzindo o indivíduo não religioso das sociedades modernas.
Num salto, ainda que arriscado, poder-se-ia dizer que as religiões
Ocidentais são religiões profanas que aspiram à condição sacra.
Por isso, a Igreja Católica se vê, actualmente, obrigada a se voltar
para as sociedades não letradas, sua única salvação, para –
paradoxalmente – desenrolar a seguir um discurso de natureza teleológica
e dessacralizante.
A estrutura da missa Católica é, em termos lógicos, a imagem do
mostrador do relógio mecânico.
Um verdadeiro mapa comportamental.
A música Ocidental, até ao século XI, era regida por um universo
fortemente auditivo e integral. Não apenas, como acontece na Índia até
hoje, os instrumentos musicais procuravam imitar, até ao século XIX, a
voz humana.
Os primeiros impulsos no sentido de uma visualização do som, fixando
sobre pergaminho, graficamente, signos representando eventos sonoros,
aconteceu por volta do século XI.
Neumas – sinais gráficos para orientar a execução musical – surgiram no
século VIII com uma grande imprecisão. Seria apenas no século XI, mesma
época de Guido d’Arezzo, que esses sinais se tornariam mais uniformes e
padrão – coincidindo com o início de fabricação de papel na Europa.
Cerca de cem anos mais tarde surgiria Perotin, ou Perotinus Magnus,
compositor musical genial sobre quem pouco se sabe – para o ser humano
não visual o anonimato era um signo comum.
Sabe-se, entretanto, que oficiou em Paris, entre 1180 e 1230. Com ele o
som se descola, mais e mais, do canto, da voz humana – mesmo que em
termos ainda ideais.
Com Guillaume de Machault, compositor igualmente genial, que viveu entre
1330 e 1377 e sobre quem sabemos muito mais, a linha melódica se torna
mais visual e quente. Já é um discurso musical estruturado num sistema
de harmonia que desencadearia o tonalismo.
Martinho Lutero percebeu a grande mudança que acontecia, na
transformação de um universo auditivo para outro fortemente visual. A
sua percepção sobre a transformação do mundo Ocidental era clara quando
comentava acerca de Josqin des Près, grande cantor e compositor que
viveu entre 1450 e 1521: «os outros maestros trabalham em função da
vontade das notas, enquanto que Josqin é senhor delas, que fazem o que
ele quer».
Para Giovanni Pierluigi da Palestrina, que viveu entre 1535 e 1594, a
música deveria emprestar um sentido vivo às palavras. Com ele, a
composição musical se aproxima da ciência, onde tudo passa a ser
previsível sobre uma estrutura definitiva e francamente hierarquizada.
Na música, as variáveis são dramaticamente reduzidas e o controlo
amplificado.
Emerge uma escala fixa, estável, temperada.
Surge Bach, Rameau.
O tempo já é cronológico.
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Elementos interconectados numa revolução
hierarquizante conduzem uma linha musical linear caracterizada pelo
começo, meio e fim, uma harmonia funcional designada pela pergunta e
resposta: uma música história.
Pensamento mecânico.
Mas o desenho do relógio não se reduz à imagem impressa de um tal
discurso. Ele é, antes, o mito metamórfico intocável do Ocidente.
O indivíduo Ocidental se torna visual.
Com o relógio mecânico surge, ainda, o tempo artificial portátil –
extensão biológica e orgânica por excelência. Mais uma vez, o natural
traduzido artificialmente. Extensão gráfica de um complexo conceptual
que gera uma violenta narcose: ninguém mais pensa no tempo.
Acontece, gradualmente, uma digitalização do tempo em diversas escalas
intercambiáveis, constituindo uma verdadeira extensão biológica e
orgânica.
Algo como um movimento tecno-orgânico. Acontecem a divisão do trabalho,
as divisões visuais estabelecidas pela perspectiva plana, a fragmentação
social em classes, o estabelecimento de horários especializados para
comportamentos, hora de almoçar, hora de dormir, hora de acordar – como
se, enquanto espécies de traduções dos Livros das Horas, estabelecessem
o artificial do natural, mostrando como um novo meio trás o anterior
como seu conteúdo.
Começa a emergir aquilo que se tornaria no tempo industrial.
Tudo acontecendo num processo que lança as suas raízes à Mesopotâmia, ao
Egipto, à Grécia, à Roma e ao alto medievo.
Seria apenas por volta do ano de 1300 que o olho começaria a ser
definitivamente amplificado.
As primeiras referências históricas ao uso dos óculos ocorrem na Itália,
nessa época.
Até então, valia mais o sistema auditivo.
Para as sociedades Islâmicas do Próximo Oriente, a produção de óculos
acabaria por se desenvolver mais lentamente, o que também aconteceria na
China.
Leonardo da Vinci retrata visualmente essa metamorfose sensorial, da
mesma forma que Piet Mondrian testemunharia a transformação para um
universo electrónico quando afirmava que «a ciência e a técnica estão
abolindo a opressão do tempo. Mas essas conquistas, quando utilizadas de
forma errada, acabam por causar grandes problemas. O nosso caminho
conduz à busca de uma equivalência das oposições desiguais da vida».
Mondrian vacilava, no seu texto, entre o maravilhamento face à nova
realidade e a nostalgia diante de um mundo que se tornava passado. Há
algo de semelhante na genial e paradoxal afirmação de Joseph Beuys: «a
formação de um pensamento é quase uma escultura».
Com Leonardo da Vinci, o visual substitui o auditivo – mas antes dele já
tinham surgido Pollaiolo e Giotto.
E ainda, agora resgatando Panofsky, a perspectiva plana matematiza o
espaço visual, impedindo o «acesso da arte religiosa ao reino mágico,
(...) é o signo do fim da antiga teocracia, e o signo do princípio da
moderna antropocracia».
Para Lewis Mumford, o relógio precedeu a imprensa na ordem das
influências sobre a mecanização social. Para Marshall McLuhan, o
alfabeto fonético como tecnologia foi o que tornou possível a
fragmentação visual e uniforme do tempo.
Entretanto, as relações entre esses mundos tecnológicos não são de
anterioridade ou de posterioridade. Ainda que a tecnologia visual
resgate uma condição de diacronia e distribua no tempo a condição
histórica, onde as partes se articulam direccionalmente e por agregação
causal, o seu significado ocorre na transição dessa construção para um
sistema que não conhece o discurso teleológico. Ou seja: apenas a
consciência possibilita a consciência, e ambos, relógio e imprensa,
participam num mesmo universo em transformação, onde estão presentes o
espelho, o papel e outros elementos tecnológicos vitais para uma tal
metamorfose.
Na conclusão do seu famoso estudo Morphology of the Folktale, de 1928, o
formalista Vladimir Propp cita uma página de Alexander Veselovsky:
«É possível que os esquemas típicos transmitidos de geração a geração
como fórmulas já dispostas, mas às quais um novo sopro as devolve à
vida, possam engendrar novas formas?... A restituição complexa, como que
fotográfica, da realidade, que caracteriza a literatura narrativa
contemporânea, parece descartar até mesmo a possibilidade desta
interrogação. Mas, quando essa literatura parecer às gerações futuras
tão distante como agora nos é o período que vai da Antiguidade Clássica
à Idade Média; quando a actividade sintetizadora do tempo, esse grande
simplificador, tenha reduzido os acontecimentos, antes complexos, à
dimensão de pontos, os contornos da literatura contemporânea se
confundirão com os que descobrimos hoje ao estudar a tradição poética de
um passado longínquo. Então se perceberá que fenómenos como o
esquematismo e a repetição cobrem todo o domínio da literatura».
Esses são dois traços essenciais, ao nível cognitivo, não apenas da
literatura, mas de um complexo de meios, de uma determinada paleta
sensorial.
O facto do alfabeto fonético e o relógio constituírem importantes pólos
num campo de natureza complexa, que compreende outras estruturas
paralelas – todos eles pólos operados e que operam um organismo lógico,
e vivo, num sistema de transformações – não permite nem uma leitura de
carácter diacrónico e hipotático ao nível das tecnologias, nem uma
abordagem redutora e formalista aspirando a descoberta de traços
antitéticos no desenho.
Tomando aqui o relógio como imagem de uma questão lógico matemática que
redesenha o próprio objecto que a determina.
O mito explode e o relógio mecânico, tal como aconteceria com os óculos,
passa a ser um símbolo de prestígio social.
O reconhecimento da sabedoria ao alcance de todos – ao menos na
aparência, pela superfície. Isso acontece ainda hoje, um pouco por toda
a parte, e muito no chamado terceiro mundo onde, por exemplo, o facto de
escrever um livro providencia um status especial ao escritor, por pior
que o livro seja.
Trata-se da narcose do fascínio produzido pelos sentidos que são
amplificados.
Com o Renascimento e o Maneirismo, os relógios passam a ser mais
ornamentados e ornamentais.
Até a Revolução Industrial, cada vez mais intensificado, o desenho
complexo das caixas dos relógios possuem muitos detalhes. Depois, as
caixas se tornam mais simples, tendendo a transferir a textura de
ornamentos da superfície para imagens pintadas ou impressas.
O desenho do relógio passa a operar, cada vez mais, articulações
metafóricas, mergulhando na ilusão da contiguidade, produto imediato da
então nova supertecnologia do Ocidente.
Com um sistema de linguagem altamente hierarquizante para o totem do
pensamento hierárquico, o universo metafórico do relógio se desdobra
numa condição de crescente auto similaridade.
A imagem da imagem de si próprio.
O ser humano engolindo o Universo e o Cosmos.
Um esqueleto sob um corpo ornamental e um coração a reger todo o
mecanismo.
Imagem newtoniana do Universo.
O relógio mecânico surgiu, no seu desenvolvimento, como um quadrante
solar ou um gnomon redescobertos.
Um salto de tigre ao passado – como diria Walter Benjamin.
Extensão da realidade temporal e ponto de fuga.
Supertecnologia invisível, pedaço de um sistema histórico mitológico,
que surge traduzido como símbolo de poder.
Uma história do poder no Ocidente não pode passar sem a imagem do
relógio.
Em Paris, durante a Revolução Francesa, ao anoitecer do primeiro dia de
luta, vários relógios de torre foram destruídos. Em regiões diferentes,
distantes umas das outras, e simultaneamente.
Resta-nos o relato de uma testemunha ocular:
«..........................Qui...................... le
..................croirait..........! ........
On dit, qu’irrités contre l’heure de nouveaux Josués au pied de chaque
tour, tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour».
Não sem motivos, o movimento hippie dos anos 1960 e 1970, que resgatava
a Índia como conteúdo e que recuperava a relação campo cidade numa
nostálgica busca ao passado dentro de uma nova revolução – a electrónica
– abominava o relógio.
O sujeito medieval não compreendia ainda sistemas de proporcionalidade
nas durações sincrónicas – isto porque não descodificava a relação
inversa do tempo e da velocidade.
Foi necessária a amplificação da velocidade com o exercício da leitura
para que tal se tornasse possível.
Quando Marcel Proust, na sua célebre obra A La Recherche du Temps Perdu,
inicia com as imagens que a sua lanterna mágica traça, não apenas insere
um índice visual da luz que ilumina, ao invés da tranparência que não
direcciona, como organiza todo o seu discurso através de um sistema
lógico
típico do mundo mecânico.
«Os lugares que conhecemos não pertencem ao mundo do espaço, onde os
situamos para maior facilidade» é a resposta e o encerramento lógico
para um sistema mecânico.
No século XVII, Pedrus Campanus era um mestre de uma especialidade
Italiana – os relógios nocturnos. Esses curiosos relógios visualizavam a
noite, isolando-a dos perigos sobrenaturais, invisíveis, tornando a
escuridão nocturna não mais como vazio de luz, mas como espécie de
negativo visual do dia.
Com números vazados na caixa e uma lâmpada no seu interior, esses
relógios projectavam as horas sobre as paredes, como uma interessante
forma de tradução tecnológica pelo avesso dos antigos relógios vela.
Nessa mesma época, populariza-se o relógio de audiências – como uma nova
interpretação dos antigos medidores de tempo – geralmente clepsidras –
utilizadas nas basílicas Romanas, quando aquele tipo de edifício ainda
não tinha sido transformado nos primitivos templos Cristãos, para medir
o tempo de audiências públicas.
O relógio de audiências do século XVII era frequentemente utilizado para
limitar o tempo gasto em entrevistas, consultas e audiências públicas em
geral – tinha, muitas vezes, mostrador de vinte e quatro horas,
disparando um pequeno sino com um toque a cada minuto, quatro toques a
cada quinze minutos e o número de toques das horas cheias. Daí,
seguramente, nasceu o formato de toques para relógios de parede e de
mesa que seriam tão populares até ao século XX.
Os avanços da Reforma, nos séculos XVII e XVIII, levaram com que os
artistas de então passassem gradualmente a orientar a sua produção para
objectos menores, mais acessíveis ao consumo do cidadão comum. A Contra
Reforma continuou com a grande escala anterior e chegou até mesmo a
aumentá-la. Assim, tem início a produção de relógios cada vez menores.
Nasce a micromecânica.
Essa redução de escala, associada à ilusão de contiguidade, faz com que
grande parte da produção de relógios de mesa, por exemplo, sejam
caracterizados por uma abordagem fortemente metafórica, imitando torres
e catedrais.
Dessa redução dos relógios monumentais para a escala da mesa surgem dois
tipos básicos: o relógio de bolso no século XVI, cuja invenção é
atribuída a Peter Henlein, que elaborava miniaturas de miniaturas; e os
célebres relógios carrilhão, que, imitando a figura das torres das
igrejas, se tornaram verdadeiros símbolos do poder familiar e,
especialmente, do patriarcalismo – a passagem
de pai para filho desse tipo de relógios era algo popular na Europa, nas
famílias mais ricas, até a Segunda Guerra Mundial. Os carrilhões
nasceram da adaptação de pêndulo longo aos antigos relógios de mesa,
muitos tipicamente relógios de audiências.
O caracterizaria praticamente toda a produção de relógios entre os
séculos XVI e XIX seria a condição ornamental e metafórica.
Na metade do século XVIII, começa a ser produzido em razoável quantidade
um tipo de relógio que se tornaria bastante popular, pelo menos em fama:
os relógios eróticos.
Tinham, geralmente, um desenho austero por fora, mas quando abertos
revelavam cenas eróticas em movimento. Índice da moral que atingiria o
seu clímax com o mundo Vitoriano.
Um universo extremamente rico metáforas, que poderia ser ilustrado pelo
relógio lança perfume, do início do século XIX, os populares relógios
banjo Americanos, da mesma época, ou até mesmo pelo famoso relógio Cuco
Ovo, criado por Carl Fabergé em 1900, para a família do Czar Russo.
Até ao século XVIII, os relógios portáteis não eram simples objectos,
mas espécies de extensões naturais do seu proprietário, espécie de
prolongamento da vida, objecto íntimo que o acompanharia depois da
morte, enterrado com o corpo. Apenas após o aumento de produção gerado
pela Revolução Industrial surgiria, gradualmente, a figura do
utilizador, relativamente independente do objecto.
Pouco a pouco, após a Revolução Industrial, o tempo departamentalizado
dos relógios, que até então era propriedade praticamente exclusiva de
uma classe social mais rica e letrada, passou a se difundir pelas
camadas populacionais mais pobres. Essa ampliação do domínio de um tempo
uniforme e padrão passou a tornar mais difíceis a obtenção das
exageradas mais valias e o controlo despótico do tempo do trabalho.
Uma ampliação do espectro de domínio do tempo do relógio que gerou
conflitos e controvérsias. Samuel Kydd, que ficaria famoso pelo
pseudónimo Alfred, relatava, na sua History of the Factory Movement, de
1857, que «ninguém, para além do patrão e do seu filho, possuía relógio.
Não sabíamos a hora. Houve um homem que tinha um relógio... Separaram-no
de nós e o colocaram sob custódia do patrão, porque ele nos tinha dito
que horas eram...».
No também célebre Chapters in the Life of a Dundee Factory Boy, escrito
por James Myles em 1887, um depoimento anónimo nos conta que «na
realidade não existiam horas regulares: patrões e administradores faziam
connosco o que bem desejavam. Adiantavam os relógios das fábricas pela
manhã e os atrasavam à tarde. (...) Ainda que isso se soubesse entre os
homens, todos tinham medo de falar. Então, os trabalhadores temiam levar
relógios para o lugar de trabalho, pois não raro despediam qualquer um
que parecesse saber demais sobre a ciência da relojoaria».
Com a indústria, o relógio perderia a sua condição fortemente ornamental
e se tornaria cada vez mais funcional.
Mas, a chegada do século XX, com a electricidade, a televisão, o
telefone, o cinema, os computadores e a rádio, há – em certa medida – um
resgate de traços do antigo tempo medieval.
A Teoria da Relatividade, o Princípio da Incerteza, a revolução quântica
– que desintegra o universo mecânico através de uma super intensificação
de uma abordagem em partículas discretas, Paul Cèzanne, Claude Debussy,
John Cage, Joseph Beuys... tudo confluindo para uma implosão do tempo
estritamente direccional, rigidamente uniforme... e o desenho deixa de
ser metafórico para
privilegiar o eixo das associações por similaridade.
Tudo passa a caminhar para a informação – e informação simplificada em
alta velocidade.
Depois de Hiroxima e Nagasaki, o universo televisivo se expande numa
escala planetária, realizando uma compreensão mais integral do tempo.
Passamos a ter, não apenas os horários de almoçar, jantar ou dormir, de
entrar ou sair da fábrica, mas a hora de programas de rádio, de
televisão, das sessões de cinema, dos telefonemas – nos momentos em que
as pessoas podem ser encontradas aqui ou ali, e um sem número de tempos,
instáveis, em turbulência.
Assim, não mais os sinos das igrejas, ou os relógios formalizados na sua
imagem convencional, tudo passou a ser informação, e tudo passou a ser
indicador de algum tempo, tudo se transformou num gigantesco relógio de
múltiplos tempos virtuais.
Assim, ainda, com a subversão da antiga percepção Ocidental do tempo, a
organização da própria História parece não mais obedecer rigorosamente à
convenção assimétrica passado, presente, futuro.
Uma profunda dessacralização que engoliu Deus e nos devolveu Cronos.
O relógio digital seria o primeiro totalmente artificial – não baseado
na imagem do Sol, das sombras, dos gnomons, dos quadrantes solares.
Os primeiros relógios digitais surgiram no século XVII e foram muito
utilizados no sul da Alemanha e na Áustria, onde o movimento da Reforma
era muito forte.
Esse novo tempo visual, que isola em unidades discretas quantas de
tempo, destacando-as totalmente de um todo temporal, instaura um novo
desenho de tempo.
Quando olhamos para relógios analógicos e vemos uma determinada hora,
ela está inserida num todo – trata-se de um ponteiro que nos indica a
sua posição num espectro de doze ou vinte e quatro horas. Mas, quando
olhamos um mostrador digital, que nos informa através de números que
horas são, aqueles números estão isolados, não estão inseridos num
quadro geral de referência visual.
Esse é idêntico fenómeno que diferencia os chamados números qualidade
dos números quantidade. E se os primeiros foram típicos na Idade Média;
os últimos passaram a dominar o cenário Ocidental com a emergência do
Renascimento.
O fenómeno do relógio digital só viria se tornar realmente popular no
século XX. É apenas então que se projectam dois tipos diferentes de
desenho de percepção de tempo: o digital e o analógico.
Curiosamente, tal como Walter Benjamin dizia da Revolução Francesa como
um salto de tigre na formação de uma segunda Roma, um salto que rompe a
previsível e causal articulação linear da História, a emergência no
século XX dos dois tipos de desenho perceptivo de tempo, analógico e
digital, parecem fazer referência, ainda que distante, aos dois tipos de
escala de tempo medievais, o Sol e a água, os relógios de sol que operam
uma escala global e a clepsidra, com uma escala local.
A extensão biológica traduzida pela escala portátil do relógio de pulso,
onde se mede o batimento cardíaco, possui três populares versões acerca
do seu nascimento.
Uns contam que durante batalhas, militares tinham necessidade de
coordenar as sua tropas e, por uma questão prática, trataram de amarrar
ao pulso – sempre o esquerdo, que normalmente está mais livre – um
pequeno relógio de bolso.
A outra versão dá conta de que Santos Dumont – que, assim como os irmãos
Wright foi um dos criadores do avião – necessitando cronometrar os
passos necessários para levar ao ar o seu aparelho, adaptou ao pulso
esquerdo um pequeno relógio de bolso.
A terceira versão dá conta de que Girrard Perregaux terá vendido o
primeiro relógio de pulso nos primeiros anos do século XX. Ao longo do
século, Rolex, Patek Philip e Longines passaram o tempo a competir para
saber quem tinha sido a empresa responsável pela invenção. A Omega
começou a sua fabricação de relógios de pulso em 1902.
O relógio de pulso amarra continuamente a atenção visual, desenha uma
nova função biológica para o braço esquerdo, pulveriza o tempo em
segundos, e redesenha o esquema assimétrico do corpo humano.
Salto da mecânica para circuitos integrados, em termos lógicos, na
atomização do tempo.
Curiosamente, com a passagem do século, os nomes dos criadores de
relógios vão desaparecendo, se tornando indefinidos, escondidos sob as
designações das marcas.
Salvo raras excepções, não se fala mais em Christaan Huygens, Maurice
Wheeler, Giovanni ou Jacopo di Dondi, mas em Rolex, Tissot, Patek Philip,
Baume e Mercier e assim por diante. Ainda que várias marcas tenham
surgido de nomes pessoas, as pessoas simplesmente desapareceram.
Na transformação desse misterioso totem Ocidental do tempo, dois
factores parecem concorrer – a precisão e a reserva energética.
Em 1780, Louis Recordon patenteia o primeiro relógio de bolso com corda
automática – é a época quando o antigo e misterioso conceito do moto
perpétuo ganha grande popularidade, o que seria ilustrado pelo magnífico
solo de violino, de Niccolo Paganini.
Apenas em 1924 surgiria o relógio de pulso automático, criado por John
Harwood.
Em 1954 é inventado o primeiro relógio atómico a amoníaco, com uma
precisão de cinco minutos num milhão de anos. O relógio atómico
posterior, funcionando a Césio, possui uma margem de erro de cerca de
trinta segundos a cada milhão de anos.
A ida do ser humano à Lua gerou uma notável onda de miniaturização e
transformação da mecânica em electrónica. A partir daí, os relógios a
quartzo se popularizaram em todo o planeta.
Alguns anos mais tarde, o plástico – tornado material nobre por
Italianos, Japoneses e mais tarde por Suíços – torna o relógio de pulso
num artefacto totalmente artificial e cria a ideia do objecto
descartável.
Aí, a ideia de propriedade se transforma na do uso sem posse definitiva.
A monitorização do tempo deixa de ser directamente relacionado a um
objecto que se prende ao corpo, e passa a ser um conceito – que pode
estar em todo o lugar.
É então que o objecto assume no seu desenho imaterial o princípio de um
novo tempo, formado pelas televisões, computadores, rádios e assim por
diante.
Até ao século XIX, a fabricação de relógios era relativamente pequena. A
partir da metade do século XX a produção de relógios ultrapassaria os
duzentos e cinquenta milhões de unidades por ano.
Apesar da sua declaração por uma arte pela arte, em 1850 Baudelaire
defenderia que a arte não podia mais, afinal, ser separada da utilidade,
antecipando muito do que viria a caracterizar o espírito do desenho
industrial.
A era industrial aumentou a taxa de informação do presente, criando uma
espécie de aparente isolamento do passado. Marinetti previa na super
acentuação da indústria a velocidade e o futuro. Mas, o consumo, levado
à mais alta intensidade, é tão isolante como presentificador do passado.
William Morris combatia febrilmente a máquina, declarava o seu eterno
amor ao passado, às guildas e à Idade Média, mas se tornou num designer.
O desenho se torna definitivamente elemento de consumo e, com isso, para
além de imaterializar, lança o planeta num complexo de sistemas médios
Assim, o desenho do tempo supera o desenho do objecto – e o desenho dos
ainda relógios é elevado à qualidade de fantasma cultural.
|
| |
| |
| |
PEÇA PARA RELÓGIO
Adiantar todos os relógios do mundo
em dois segundos,
sem que ninguém perceba
Yoko Ono
Outono 1963 |
| |
1983
Editor: ASA Art and Technology UK Limited
© Emanuel Dimas de Melo Pimenta
© ASA Art and Technology
www.asa-art.com
www.emanuelpimenta.net
Todos os direitos reservados. Nenhum texto,
fragmento de texto, imagem ou parte desta publicação
poderá ser utilizada com
objectivos comerciais ou em relação a qualquer uso
comercial, mesmo indirectamente, por qualqueis
meios, electrónicos
ou mecânicos, incluindo fotocópia, qualquer tipo de
impressão, gravação ou outra forma de armazenamento
de informação,
sem autorização prévia por escrito do editor. No
caso do uso ser permitido, o nome do auto deverá ser
sempre incluído. |
| |
 |
| |
EMANUEL DIMAS DE MELO PIMENTA (BRASIL/PORTUGAL/MUNDO)
Tem sido considerado um
importante compositor, arquitecto e artista
intermedia, em todo o mundo no início do
terceiro milénio - segundo declarações
escritas por personalidades como John Cage,
Ornette Coleman, Merce Cunningham, René
Berger, Lucrezia De Domizio, William
Anastasi, Daniel Charles e Dove Bradshaw
entre outros.
Os seus trabalhos estão
incluídos em algumas das mais expressivas
colecções de arte e instituições
reconhecidas internacionalmente como o
Whitney Museum de Nova York, o Museu de Arte
Contemporânea ARS AEVI, a Bienal de Veneza,
o Computer Art Museum de Seattle, o
Kunsthaus de Zurique, a Colecção Durini de
Arte Contemporânea, a Bibliotèque Nationale
de Paris e o MART - Museu de Arte
Contemporânea de Rovereto e Trento, na
Itália, entre outros.
www.asa-art.com .
www.emanuelpimenta.net
http://emanuelpimenta.mypodcast.com/ |
| |
 |
| |
© Maria Estela Guedes
estela@triplov.com
Rua Direita, 131
5100-344 Britiande
PORTUGAL |
| |
 |
| |
|
|
|


